A desigualdade social constitui, desde tempos remotos, uma das problemáticas centrais das sociedades modernas, representando um fenômeno multifacetado que abrange dimensões econômicas, culturais, políticas e históricas. Sua compreensão, à luz das ciências sociais, permite não apenas a identificação dos mecanismos estruturais que a perpetuam, mas também a reflexão crítica sobre as possibilidades de transformação e superação dos desequilíbrios existentes. O presente texto propõe uma análise aprofundada da desigualdade social, articulando abordagens teóricas e históricas que se entrelaçam para oferecer um panorama abrangente e didático do tema. A partir de uma leitura interdisciplinar, evidencia-se que o fenômeno não pode ser reduzido a meras estatísticas ou índices econômicos, mas exige uma compreensão de suas raízes históricas e das práticas sociais que o sustentam, conforme apontam diversos estudiosos (BOURDIEU, 1998; FREIRE, 1987).
Ao se considerar o legado das desigualdades estruturais, é possível perceber que a distribuição desigual de recursos e oportunidades não se dá por acaso, mas resulta de processos históricos marcados por relações de poder assimétricas e exclusões sistemáticas. Dessa forma, a análise da desigualdade social demanda uma abordagem que considere tanto os determinantes macroestruturais, como as políticas econômicas e o legado colonial, quanto as dinâmicas micro-sociais que se expressam nas práticas cotidianas. A articulação entre teoria e prática, entre o debate acadêmico e a realidade vivida pelas populações, revela a complexidade do fenômeno e a necessidade de um olhar multidimensional que ultrapasse as fronteiras das análises unidimensionais (GIDDENS, 1991).
Nesse contexto, o estudo da desigualdade social se mostra indispensável para a formulação de políticas públicas e para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e equitativa. Ao compreender os mecanismos que geram e reproduzem as disparidades, é possível identificar pontos de intervenção que promovam a inclusão social e a ampliação dos direitos, contribuindo para a construção de uma cidadania plena. Assim, o objetivo deste trabalho é oferecer uma reflexão crítica, fundamentada em referencial teórico sólido e em dados históricos, sobre a persistência e as transformações da desigualdade social, apontando desafios e perspectivas para o futuro.
Por Roniel Sampaio Silva
Considerações iniciais
Segundo o dicionário de sociologia de Allan G. Johnson, estratificação “é o processo social através do qual vantagens e recursos tais como riqueza, poder e prestígio são distribuídos sistemática e desigualmente entre as sociedades”. Portanto, estratificação é uma forma de analisar as diferenças entre os grupos e indivíduos. As principais formas de desigualdade são: econômica, racial, de gênero e regional. A mobilidade social é ação de mudar de um estrato para o outro.

Neste sentido, estratificação é também uma forma de classificar as pessoas em categorias como classe, gênero e raça. De forma geral, há três tipos básicos de estratificação social: a) Casta; b) Estamento e c) classe social. A casta são formas de posicionamento social baseado em rígidas regras endossadas pela cosmologia (cultural e religiosa) de que determinados grupos e pessoas só podem exercer determinadas funções, cujo status é definido de forma hereditária. A exemplo disso temos a Índia antes da colonização (embora tal estrutura tenha perdurado por muito tempo). Já os estamentos são também rígidos, porém são definidos para além da religião e hereditariedade, sendo as relações construídas por meio da honra, havendo pouca mobilidade social. Um bom exemplo disso foi a Europa feudal. A classe social é um tipo específico de estratificação que se tornou dominante com o advento da modernidade, cuja classificação dos indivíduos se baseia, sobretudo, nas riquezas materiais e posses, especialmente dos meios de produção. Neste sistema o principal critério é o econômico. A raça e gênero ainda que levados em consideração têm menor grau de relevância. Em relação às demais formas de estratificação, as castas é o que possui maior mobilidade social e também maior desigualdade.
Além disso, vale ressaltar que não há apenas um tipo de desigualdade, portanto o que há são desigualdades. Existem, inclusive, desigualdades que são biológicas e inerentes ao próprio indivíduo. As desigualdades que são objeto da sociologia são aquelas cujas construções são oriundas de relações e processos sociais. As desigualdades sociais podem ser econômica, racial, de gênero e regional, etc.
Fundamentação Teórica
A compreensão da desigualdade social passa, necessariamente, pelo diálogo com as principais correntes teóricas das ciências sociais, que oferecem ferramentas analíticas para decifrar os mecanismos de exclusão e dominação presentes nas relações sociais. Entre os teóricos que se destacam nesse debate, Pierre Bourdieu e Anthony Giddens apresentam contribuições fundamentais para a análise das estruturas sociais e das dinâmicas de poder.
Segundo Bourdieu (1998), a desigualdade não se restringe à dimensão econômica, mas se manifesta também por meio de capitais diversos – econômico, cultural, social e simbólico – que determinam a posição dos indivíduos no campo social. A noção de capital cultural, por exemplo, permite compreender como as práticas e os saberes adquiridos ao longo da socialização influenciam as oportunidades de ascensão ou estagnação social. Dessa forma, o acesso diferenciado a recursos culturais torna-se um mecanismo central de reprodução das desigualdades, já que as normas e valores dominantes tendem a privilegiar os detentores de determinados capitais (BOURDIEU, 1998).
Complementarmente, Anthony Giddens (1991) ressalta a importância da teoria da estruturação, segundo a qual as ações individuais são simultaneamente condicionadas e produtoras de estruturas sociais. Essa perspectiva destaca que os indivíduos, ao reproduzirem práticas cotidianas, contribuem para a consolidação das relações de poder e das hierarquias existentes. Assim, a desigualdade social é resultado de um processo dialético, em que as práticas dos agentes são tanto fruto de condições históricas quanto elementos que as transformam. Essa abordagem possibilita uma análise dinâmica e integrada dos fenômenos sociais, evidenciando que a mudança estrutural depende de uma articulação complexa entre ações individuais e instituições (GIDDENS, 1991).
Outra vertente teórica relevante para a compreensão das desigualdades é a proposta por Michel Foucault, que, embora não tenha escrito extensivamente sobre o tema em termos quantitativos, oferece subsídios para a análise do poder e das relações disciplinares. Foucault (1977) argumenta que o poder se manifesta em múltiplas dimensões e não se restringe apenas às relações de dominação econômica. Em seu pensamento, o controle social se efetiva por meio de práticas discursivas e de uma “micropolítica” que estrutura os comportamentos individuais, contribuindo para a manutenção de um status quo desigual. Essa perspectiva amplia a compreensão das desigualdades, incorporando dimensões simbólicas e normativas às análises tradicionais (FOUCAULT, 1977).
No âmbito das teorias críticas, a obra de Boaventura de Sousa Santos (2002) propõe a ideia de “epistemologias do sul”, enfatizando a importância de reconhecer saberes e práticas originárias das periferias como forma de contestar os paradigmas eurocêntricos que frequentemente justificam as desigualdades. Essa abordagem valoriza a pluralidade de perspectivas e denuncia a imposição de modelos hegemônicos que reproduzem a exclusão social. Ao trazer à tona vozes historicamente marginalizadas, Santos (2002) propõe uma reconfiguração do conhecimento que permita a construção de uma sociedade mais democrática e plural, na qual as desigualdades sejam combatidas por meio de uma transformação profunda nas relações de poder.
Outra contribuição teórica relevante é a discussão sobre a modernidade tardia, abordada por diversos autores que analisam os processos de globalização e de reestruturação do capitalismo. Nesse contexto, o trabalho de Thomas Piketty (2014) destaca que a concentração de renda e a persistência das desigualdades estão intrinsecamente ligadas a estruturas econômicas que favorecem a acumulação de capital nas mãos de poucos. Piketty (2014) argumenta que, sem a intervenção de políticas redistributivas efetivas, as disparidades se aprofundarão, comprometendo o tecido social e ameaçando a estabilidade democrática. Essa perspectiva evidencia a dimensão política e econômica das desigualdades, sublinhando a necessidade de reformas que promovam uma distribuição mais equitativa dos recursos (PIKETTY, 2014).
Dessa forma, a fundamentação teórica sobre a desigualdade social revela a complexidade do fenômeno e a necessidade de abordagens que integrem diferentes dimensões. A articulação entre teoria e prática possibilita uma compreensão aprofundada dos mecanismos de exclusão e dos desafios que se impõem à construção de sociedades mais justas. Ao considerar as contribuições de Bourdieu, Giddens, Foucault, Santos e Piketty, entre outros, torna-se possível identificar os elementos estruturais que sustentam a desigualdade e delinear estratégias de intervenção que contemplem tanto aspectos culturais quanto econômicos e políticos.
Aspectos Históricos da Desigualdade Social
A trajetória histórica das sociedades revela que a desigualdade social é um fenômeno que acompanha o processo de formação dos Estados e das economias. No caso do Brasil, por exemplo, as raízes da desigualdade podem ser traçadas desde o período colonial, marcado pela exploração e pela escravidão, que implantaram um sistema de privilégios e exclusões que perdura até os dias atuais. Conforme destaca Fausto (1995), a colonização e o modelo de exploração adotado pelos colonizadores europeus geraram estruturas sociais profundamente desiguais, nas quais o poder e a riqueza eram concentrados em uma minoria, enquanto a maioria da população vivia em condições de subordinação e exclusão.
O período escravagista, em particular, representa um marco histórico de extrema violência e desumanização, configurando um sistema de produção que se baseava na exploração de mão de obra não remunerada e na imposição de uma hierarquia racial e social. Essa estrutura, segundo Skidmore (1988), foi responsável pela consolidação de padrões de comportamento que, mesmo após a abolição da escravidão, continuaram a influenciar as relações sociais e a manutenção de desigualdades profundas. A herança desse período se manifesta não apenas nas disparidades econômicas, mas também na estigmatização e na marginalização de grupos historicamente excluídos.
A transição para a sociedade pós-escravagista não representou, por si só, a erradicação das desigualdades, mas sim uma reconfiguração dos mecanismos de exclusão. Conforme argumenta Freire (1987), a educação, que poderia ter sido um instrumento de emancipação, muitas vezes reproduziu as hierarquias existentes ao invés de promover a verdadeira inclusão social. Essa constatação evidencia que a superação das desigualdades exige não apenas mudanças institucionais, mas também uma transformação profunda das estruturas culturais e simbólicas que legitimam as disparidades.
No decorrer do século XX, o Brasil vivenciou diversas transformações políticas e econômicas que afetaram diretamente os índices de desigualdade. A industrialização e o processo de urbanização acelerado trouxeram consigo tanto avanços quanto desafios. Por um lado, o crescimento econômico permitiu a consolidação de uma classe média emergente; por outro, a rápida urbanização intensificou problemas como a segregação espacial, o acesso desigual a serviços públicos e a concentração de renda nas metrópoles. Castelos e outros estudiosos (1995) apontam que esse período foi marcado por uma dualidade: enquanto certos setores da sociedade experimentavam progressos significativos, outros permaneciam à margem do desenvolvimento.
Outro aspecto relevante na análise histórica da desigualdade é a influência das políticas públicas e das reformas sociais. Durante a década de 1960, por exemplo, iniciativas governamentais voltadas à reforma agrária e à expansão do acesso à educação tiveram impacto significativo na redução de certas formas de desigualdade, embora de maneira ainda limitada. Contudo, a retomada de políticas neoliberais nas décadas seguintes contribuiu para o agravamento das disparidades, evidenciando que a intervenção estatal pode ser tanto um instrumento de inclusão quanto um agente de manutenção das desigualdades, dependendo da forma como é implementada (GIDDENS, 1991).
A análise histórica das desigualdades sociais demonstra que os processos de exclusão e concentração de recursos são fruto de uma longa trajetória de relações de poder, que se renovam e se adaptam conforme os contextos históricos. Essa perspectiva possibilita compreender que a desigualdade é um fenômeno dinâmico, cujas manifestações se transformam ao longo do tempo, mas que mantém uma essência estruturante nas sociedades. A compreensão desses aspectos é fundamental para a construção de estratégias que visem a superação das disparidades, uma vez que só se pode transformar o presente entendendo as raízes do passado.
Análise Contemporânea da Desigualdade Social
Na contemporaneidade, a desigualdade social apresenta-se como um dos principais desafios para o desenvolvimento sustentável e para a estabilidade das democracias. Em um mundo globalizado, as disparidades não se restringem mais às fronteiras nacionais, mas adquirem dimensões transnacionais, intensificando-se em contextos onde a concentração de renda e a exclusão social se evidenciam de forma acentuada. O trabalho de Piketty (2014) evidencia que, sem intervenções eficazes, a tendência é de que as disparidades se aprofundem, comprometendo não apenas o equilíbrio econômico, mas também a coesão social e a legitimidade dos sistemas políticos.
O cenário contemporâneo revela que a desigualdade social está intrinsecamente ligada a processos de globalização que, embora tenham promovido o crescimento econômico em diversas regiões, também ampliaram os contrastes entre os que detêm o capital e os que são excluídos dos benefícios desse desenvolvimento. A concentração de riqueza, muitas vezes associada à flexibilização das relações de trabalho e à desregulamentação dos mercados, resulta em condições de precarização e exclusão para grandes parcelas da população. Conforme apontam diversos estudos, a redução das desigualdades exige políticas públicas que promovam a redistribuição de renda e o acesso universal a direitos fundamentais, como saúde, educação e moradia (PIKETTY, 2014; SANTOS, 2002).
Nesse sentido, o debate sobre as políticas de bem-estar social ganha relevância ao ser associado à construção de um novo pacto social. A partir de uma análise crítica, é possível perceber que as estratégias de intervenção precisam ser articuladas de forma integrada, considerando não apenas os aspectos econômicos, mas também as dimensões culturais e sociais que reproduzem a exclusão. A implementação de políticas redistributivas, por exemplo, deve ir além da mera transferência de recursos, devendo contemplar a promoção de condições que possibilitem a inclusão efetiva dos indivíduos nas esferas política, econômica e social (FREIRE, 1987).
Outra dimensão importante da análise contemporânea diz respeito ao papel da educação como instrumento de transformação social. A escola, enquanto espaço de socialização e produção de conhecimento, pode ser tanto um agente de reprodução das desigualdades quanto um instrumento de emancipação, dependendo da forma como suas práticas pedagógicas são concebidas. Conforme enfatiza Freire (1987), a educação libertadora deve incentivar a reflexão crítica e a participação ativa dos alunos na construção de seu próprio conhecimento, rompendo com os padrões tradicionais que reforçam as hierarquias sociais. Essa perspectiva revela que a transformação da desigualdade passa, necessariamente, pela reconfiguração dos processos educativos e pela valorização dos saberes que emergem das periferias (FREIRE, 1987).
No campo do trabalho, a globalização e as novas tecnologias têm remodelado as relações laborais, criando tanto oportunidades quanto desafios para a redução das desigualdades. A automação e a digitalização dos processos produtivos, por exemplo, têm potencial para aumentar a produtividade, mas também podem intensificar a precarização das relações de trabalho e a exclusão de determinados grupos. Estudos recentes apontam que a adoção de políticas de qualificação profissional e a promoção de um ambiente de trabalho inclusivo são medidas essenciais para mitigar os efeitos negativos dessas transformações (GIDDENS, 1991). Nesse contexto, a articulação entre o setor público e o privado se torna crucial para a criação de estratégias que garantam a geração de empregos de qualidade e a valorização da mão de obra local.
A dimensão urbana também merece destaque na análise contemporânea da desigualdade social. As grandes metrópoles, que concentram tanto a riqueza quanto a pobreza, são palco de intensos contrastes sociais. A segregação espacial, visível na coexistência de áreas com infraestrutura avançada e favelas carentes, evidencia a disparidade no acesso aos serviços públicos e à qualidade de vida. Autores como Castel (1995) ressaltam que a fragmentação do espaço urbano reflete as desigualdades estruturais, onde as políticas de urbanização muitas vezes reproduzem a exclusão social ao invés de promover a integração dos diferentes grupos. A requalificação dos espaços urbanos, portanto, passa pela implementação de políticas que incentivem a inclusão social e a democratização do acesso a bens e serviços essenciais (CASTEL, 1995).
Em paralelo, a crise ambiental contemporânea revela uma interseção preocupante entre desigualdade social e degradação ambiental. Os impactos das mudanças climáticas e da exploração insustentável dos recursos naturais afetam de maneira desproporcional as populações mais vulneráveis, ampliando as disparidades já existentes. A discussão sobre justiça ambiental, que associa a proteção do meio ambiente à promoção da equidade social, tem ganhado espaço tanto no meio acadêmico quanto no debate público. Nesse cenário, a busca por modelos de desenvolvimento sustentável torna-se indispensável para enfrentar os desafios da desigualdade, pois a preservação dos recursos naturais está intrinsecamente ligada à garantia de uma vida digna para todos (SANTOS, 2002).
A análise contemporânea da desigualdade social, portanto, revela a necessidade de uma abordagem integrada que considere as múltiplas dimensões do fenômeno. A conjugação de políticas redistributivas, a transformação dos processos educativos, a reestruturação das relações de trabalho e a promoção de um urbanismo inclusivo são estratégias fundamentais para reduzir as disparidades e construir sociedades mais justas. Ao reconhecer a complexidade dos desafios atuais, torna-se possível traçar caminhos para uma intervenção que vá além do paliativo, buscando a transformação das estruturas sociais que perpetuam a exclusão.
Desafios e Perspectivas para a Superação das Desigualdades
A superação das desigualdades sociais é um desafio que demanda a articulação de múltiplas esferas do conhecimento e da ação política. Entre os principais desafios, destaca-se a necessidade de integrar políticas públicas que atuem de forma sistêmica, promovendo a redistribuição de renda e a ampliação do acesso a direitos fundamentais. Conforme enfatiza Giddens (1991), a transformação das estruturas sociais requer uma ação coordenada entre o Estado, a sociedade civil e o setor privado, a fim de construir um novo contrato social que contemple a inclusão e a equidade.
A implementação de políticas de inclusão passa, inevitavelmente, pela reestruturação dos sistemas educacionais. A educação, entendida como ferramenta de mobilidade social, deve ser repensada para superar as barreiras históricas que têm reproduzido as desigualdades. Nesse sentido, a adoção de metodologias pedagógicas inovadoras e a valorização dos saberes populares são medidas que podem contribuir para a formação de cidadãos críticos e atuantes. Conforme argumenta Freire (1987), o desenvolvimento de uma consciência crítica é fundamental para que os indivíduos possam se posicionar diante das injustiças e participar ativamente da transformação social.
Outro desafio relevante diz respeito à organização do trabalho na era digital. A revolução tecnológica, que tem transformado os processos produtivos, impõe a necessidade de políticas que garantam a qualificação e a proteção dos trabalhadores. A precarização do trabalho, associada à flexibilização das relações laborais, requer a criação de mecanismos de proteção social que assegurem condições dignas de trabalho e a redução das disparidades salariais. Assim, a promoção de um mercado de trabalho inclusivo passa pela implementação de políticas de treinamento e requalificação profissional, bem como pela regulação dos novos formatos de emprego que emergem no contexto da economia digital (GIDDENS, 1991).
A questão da moradia também figura como um dos pilares para a redução das desigualdades. Em muitos centros urbanos, a segregação espacial é uma manifestação direta das disparidades socioeconômicas. A falta de acesso a habitações de qualidade, associada à ausência de infraestrutura básica, contribui para a marginalização de parcelas significativas da população. Políticas de urbanização inclusiva, que promovam a integração dos espaços urbanos e o acesso equitativo a serviços essenciais, são indispensáveis para mitigar essas desigualdades. Castelos (1995) ressalta que a requalificação urbana, aliada a programas habitacionais eficazes, pode representar um importante instrumento de transformação social, ao possibilitar que as comunidades historicamente excluídas tenham acesso a condições de vida mais dignas.
Em um cenário global, a cooperação internacional também desempenha um papel crucial na formulação de estratégias para a redução das desigualdades. As disparidades entre países, que se manifestam tanto na distribuição de recursos quanto no acesso a tecnologias e inovações, exigem a criação de mecanismos de solidariedade e de transferências tecnológicas que possam promover o desenvolvimento sustentável em regiões historicamente desfavorecidas. A discussão sobre a justiça global, que integra questões de sustentabilidade ambiental, acesso à saúde e educação, aponta para a necessidade de uma governança mundial que se preocupe não apenas com os interesses econômicos, mas também com a promoção de um desenvolvimento equitativo (PIKETTY, 2014).
Diante desses desafios, as perspectivas para a superação das desigualdades sociais passam, necessariamente, pela construção de um modelo de desenvolvimento que privilegie a inclusão e a justiça social. A mobilização social, aliada a um compromisso político sério e a uma reestruturação das instituições, pode representar um caminho para a transformação das estruturas que perpetuam a exclusão. Nesse sentido, o engajamento de movimentos sociais, organizações não governamentais e a própria comunidade acadêmica é fundamental para a elaboração de propostas que se traduzam em políticas públicas efetivas e transformadoras.
É imprescindível, ainda, que o debate sobre desigualdade social se mantenha em constante renovação, integrando as novas dimensões que emergem com as transformações tecnológicas e culturais. A digitalização dos processos produtivos, as mudanças nas relações de trabalho e os desafios ambientais requerem uma atualização contínua dos instrumentos analíticos e das estratégias de intervenção. Assim, a construção de uma sociedade mais justa e igualitária passa pelo reconhecimento da complexidade do fenômeno e pela disposição para a implementação de medidas integradas e intersetoriais, que envolvam todos os segmentos da sociedade.
A perspectiva de uma transformação profunda das desigualdades sociais não é, portanto, um caminho isento de desafios. As resistências dos interesses estabelecidos, a rigidez das estruturas econômicas e a dificuldade em promover mudanças culturais constituem obstáculos significativos. Entretanto, a trajetória histórica aponta que, por meio de ações coletivas e de uma intervenção estatal comprometida com os valores da justiça e da democracia, é possível avançar rumo a uma sociedade que valorize a equidade e a solidariedade. A experiência de países que implementaram políticas redistributivas bem-sucedidas demonstra que a redução das desigualdades é viável, ainda que requeira tempo, recursos e, sobretudo, uma mudança de paradigma nas relações de poder (SANTOS, 2002).
Em síntese, os desafios contemporâneos demandam uma reflexão profunda sobre os mecanismos que geram e reproduzem a desigualdade social, bem como sobre as possíveis estratégias de intervenção. A articulação entre políticas públicas, iniciativas do setor privado e a mobilização da sociedade civil se apresenta como o caminho mais promissor para a construção de uma sociedade inclusiva e justa. A transformação das estruturas que sustentam as disparidades requer, portanto, um esforço conjunto e sustentado, que reconheça a complexidade do fenômeno e se comprometa com a promoção dos direitos humanos e da dignidade de todos os cidadãos.
Considerações finais
A análise crítica da desigualdade social, fundamentada em abordagens teóricas e históricas, evidencia que o fenômeno é resultado de processos complexos e interligados que atravessam dimensões econômicas, culturais e políticas. A partir das contribuições de autores como Bourdieu (1998), Giddens (1991), Foucault (1977), Freire (1987), Santos (2002) e Piketty (2014), constata-se que a persistência das desigualdades não se deve apenas a fatores acidentais, mas a estruturas históricas enraizadas e que se renovam de forma dinâmica. Esse panorama reforça a necessidade de políticas integradas, capazes de promover a redistribuição de recursos, a democratização do acesso a direitos fundamentais e a valorização dos saberes oriundos dos segmentos historicamente marginalizados.
A trajetória histórica, desde os tempos coloniais até os desafios contemporâneos, revela que a desigualdade social é uma característica intrínseca à formação das sociedades, mas que também pode ser transformada por meio de ações coletivas e de um compromisso político genuíno com a justiça social. A educação, a organização do trabalho, a requalificação urbana e a cooperação internacional emergem, assim, como eixos estratégicos para a superação das disparidades.
Por fim, a reflexão proposta evidencia que o combate à desigualdade social é, acima de tudo, uma questão de direitos humanos e de cidadania. A construção de uma sociedade mais equitativa depende da mobilização de diversos atores sociais e da implementação de políticas públicas que privilegiem a inclusão e a participação democrática. Somente a partir de uma abordagem integrada e intersetorial será possível promover as transformações necessárias para reduzir as disparidades e assegurar condições dignas de vida para todos.
Referências Bibliográficas
BOURDIEU, Pierre. A Distinção: Crítica Social do Julgamento. São Paulo: Edusp, 1998.
CASTEL, Robert. Metamorfoses do Poder. São Paulo: Edusp, 1995.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão. Petrópolis: Vozes, 1977.
GIDDENS, Anthony. A Terceira Via. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991.
JOHNSON, Allan G. Dicionário de Sociologia: Guia prático da Linguagem Sociológica, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
PIKETTY, Thomas. O Capital no Século XXI. São Paulo: Boitempo, 2014.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Por Uma Outra Globalização: As Possibilidades do Desenvolvimento na Terceira Onda. Rio de Janeiro: Record, 2002.
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1995.
SKIDMORE, Thomas E. Brasil: de Getúlio a Castello. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

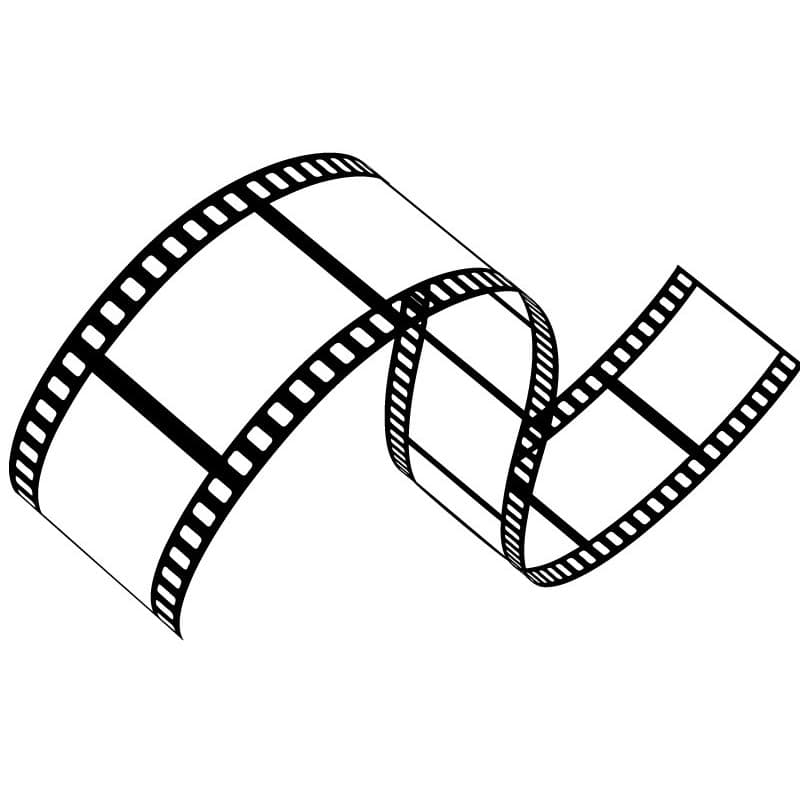
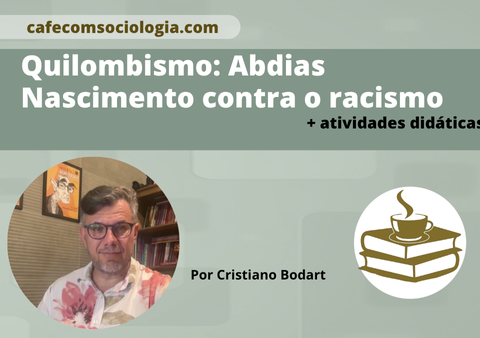

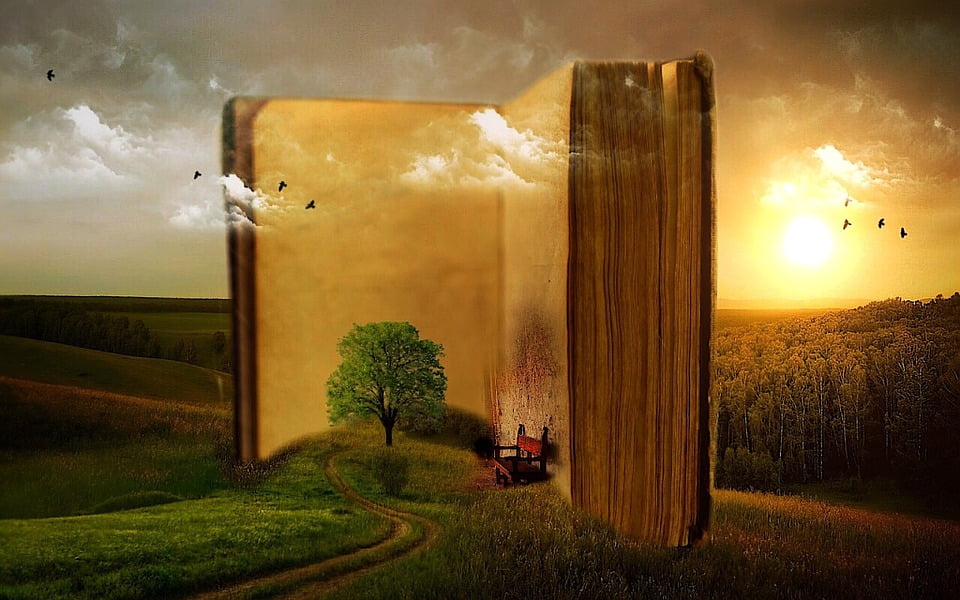


![[ já realizado] Sorteio de livro: Linchamentos – José de Souza Martins 4 2015 05 livro linchamentos](https://cafecomsociologia.com/wp-content/uploads/2017/02/2015_05_livro_linchamentos.jpg)

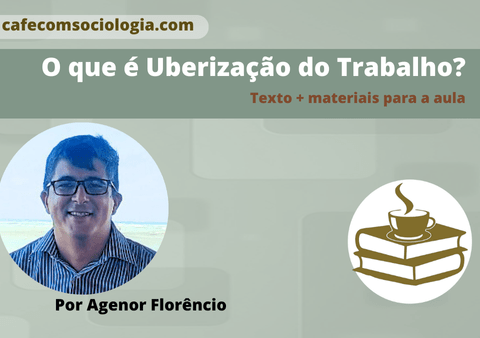
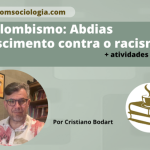

Olá! Há um erro no segundo parágrafo. A casta tem MENOR mobilidade social. Abraços
Olá Carlitos. Acabei de ver e consertar. Muito obrigado pelo feedback. Um grande abraço
Na verdade, as castas “não possuem” mobilidade.
Os estamentos possuem menor mobilidade e as classes possuem maior mobilidade.
Exemplo de casta: nobreza e plebe;
Exemplo de estamento: servidores públicos concursados
Exemplo de classes: elite, “classes médias” (são várias), ralé (vide Jessé Souza).
Olá.
Tenho me apoiado muito em seu blog para “dar! minhas aulas de sociologia, já que não sou especialista na área. Não estou encontrando o texto “Joaonzinho aprende a pensar sociologicamente”.
Você poderia me enviar o texto, por favor?
Detalhe…amo esse blog…Muito obrigada por me ajudarem tanto!!
prof, Renata Pellini
Email – [email protected] – fone 15- 996625250.
Ótimo resumo para introduzir o tema.