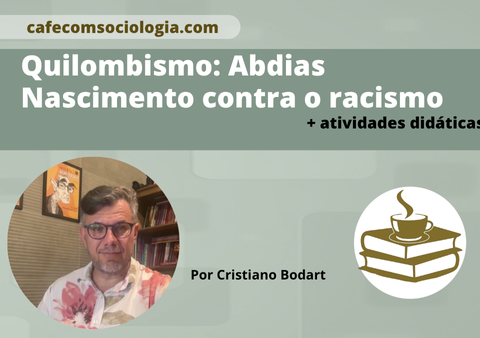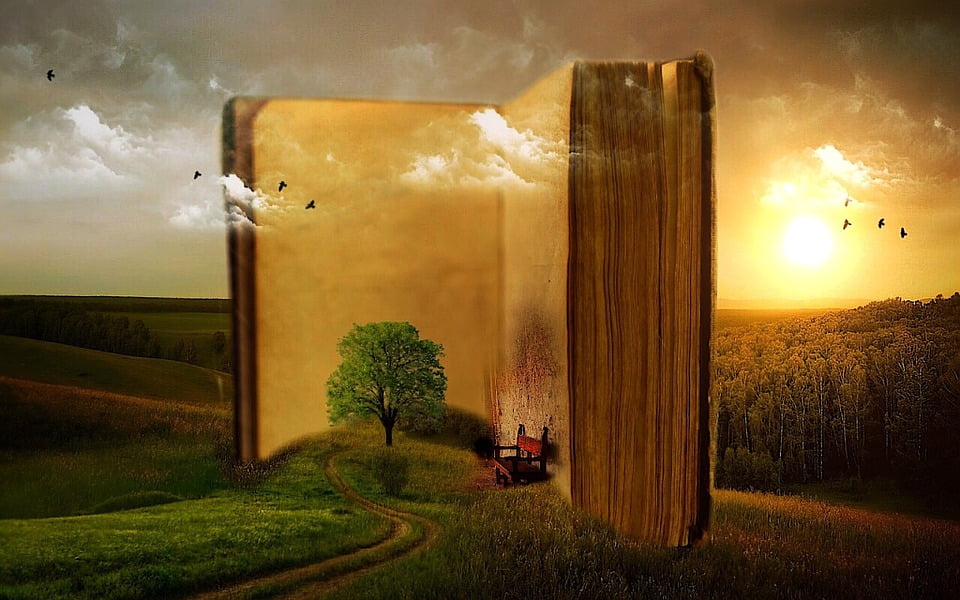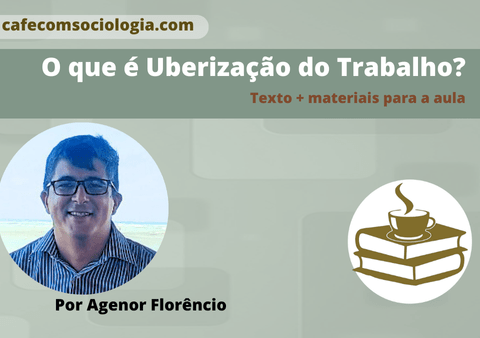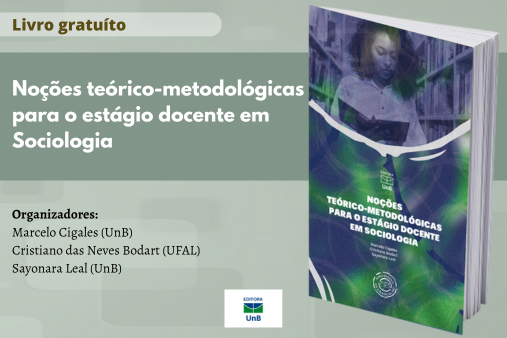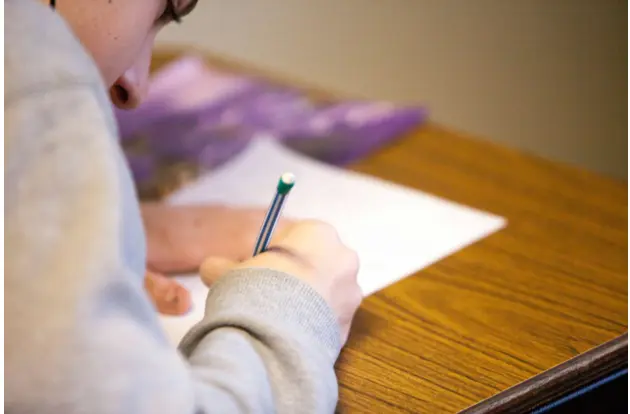O termo idadismo, também conhecido como etarismo ou ageismo (inglês) designa uma forma de discriminação de pessoas baseado em idade. Para além de apelidos, piadas ou expressões perorativas que hierarquizam as idades, o etarismo é uma estrutura que influencia em postos de trabalho, funções e audiência política.
Falar sobre idadismo — também conhecido como etarismo — é adentrar uma das expressões mais naturalizadas do preconceito social contemporâneo. Em meio às pautas de diversidade que marcam o século XXI, o preconceito baseado na idade continua operando de forma silenciosa, estrutural e, muitas vezes, invisível.
Embora as sociedades no mundo todo tenham tendência demográfica de envelhecimento da população, a sociedade capitalista basea-se no utilitarismo da produtividade e contribui para o idadismo. Tal lógica, costuma ser diametralmente oposta em sociedades menos complexas nas quais os anciões atuam como os guias para as novas gerações.
Seguindo a tendência mundial, a sociedade brasileira, conforme apontam os dados do Censo Demográfico de 2022, vive um processo acelerado de envelhecimento populacional: o número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu 57,4% em doze anos, representando hoje 22,2 milhões de brasileiros. Ainda assim, ser idoso no Brasil continua sendo um desafio social, político e simbólico.
Compreender o idadismo é compreender também as estruturas sociais que definem quem é considerado “produtivo”, “relevante” ou “desejável”. Como ensina Pierre Bourdieu (1998), a sociedade organiza-se segundo capitais — econômico, cultural e simbólico — e o envelhecimento altera o lugar do indivíduo nessas hierarquias. A perda do capital físico ou da visibilidade social converte-se em desvalorização simbólica, fenômeno intensificado em culturas que associam juventude à inovação e velhice à obsolescência.
A construção social da idade: entre cultura, racionalidade e poder
A idade, quando analisada sob uma perspectiva sociológica e histórica, ultrapassa a mera condição biológica e se constitui como uma categoria social e simbólica. Trata-se de um produto histórico-cultural que reflete as formas pelas quais as sociedades organizam o tempo da vida, atribuindo significados, papéis e expectativas distintas a cada etapa. Assim, a idade é uma construção que varia conforme as estruturas econômicas, políticas e culturais de cada época, assumindo feições diversas conforme o ethos dominante.
1. A idade como invenção histórica
Philippe Ariès (1981), ao estudar o surgimento da infância no Ocidente, mostrou que aquilo que hoje compreendemos como “infância” é uma invenção histórica. Na Idade Média, segundo o autor, não havia uma concepção social e simbólica da criança como sujeito distinto do adulto; a infância era um estado transitório, indiferenciado e invisível. Apenas com a consolidação das formas modernas de família, escolarização e disciplinamento social é que a infância passou a ser reconhecida como fase autônoma, dotada de proteção e de sentido moral.
Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado à velhice: não há um “modo natural” de ser velho, mas diferentes construções históricas sobre o envelhecer. Em determinadas sociedades, a velhice foi sinônimo de sabedoria e prestígio; em outras, passou a representar declínio, improdutividade e afastamento social. A modernidade ocidental, com sua lógica de eficiência e racionalização, tendeu a reconfigurar o envelhecimento como perda e obsolescência — um deslocamento simbólico que Max Weber (1922) ajuda a compreender.
2. A racionalidade moderna e a desvalorização da experiência
Weber, em sua análise sobre o processo de racionalização da vida social, destacou que a modernidade organiza-se em torno da eficiência, da previsibilidade e da mensurabilidade. Essa racionalidade instrumental, típica das burocracias modernas, mede o valor dos indivíduos segundo critérios de utilidade, desempenho e produtividade, o que implica a marginalização das dimensões qualitativas da experiência humana — entre elas, a sabedoria acumulada com a idade.
Assim, a velhice, outrora valorizada como repositório de memória e prudência, torna-se, no contexto capitalista e tecnicista, um estado de ineficiência. O idoso passa a ser visto como alguém que já não “produz”, não “inova” e não se ajusta à velocidade dos fluxos econômicos e tecnológicos. O que Weber denomina “racionalidade formal” gera, portanto, uma ética do desempenho que marginaliza o envelhecido e exalta o novo, o veloz e o adaptável.
Essa estrutura racional-burocrática da sociedade moderna prepara o terreno para o que Robert N. Butler, em 1969, identificou como “ageism”, ou “idadismo” — um sistema de crenças e práticas discriminatórias baseadas na idade.
3. O conceito de idadismo e suas dimensões
Butler (1969) foi pioneiro ao nomear o fenômeno da discriminação etária, definindo-o como um processo de estereotipar e discriminar pessoas com base em sua idade. A importância do termo está em revelar que a marginalização da velhice não é um acaso cultural, mas uma forma sistemática de preconceito comparável ao racismo e ao sexismo. O idadismo, portanto, opera simultaneamente em três dimensões: institucional, interpessoal e subjetiva.
No nível institucional, manifesta-se por meio de políticas públicas, normas organizacionais e práticas que excluem ou desvalorizam pessoas idosas — por exemplo, nos processos seletivos de trabalho ou na limitação de acesso a serviços. Na esfera interpessoal, o preconceito aparece nas relações cotidianas, através de piadas, infantilizações e exclusões simbólicas. E no plano internalizado, o sujeito absorve e reproduz as representações negativas sobre a própria idade, passando a perceber-se como um “peso” ou “estorvo social”. Essa autopercepção reforça a dominação simbólica e aprofunda a alienação social do envelhecimento.
Butler chama atenção para o fato de que o idadismo não se restringe ao ódio ou à repulsa, mas funciona como um sistema de naturalização da desigualdade, sustentado por valores sociais que associam juventude à produtividade e velhice à ineficiência.
4. A reprodução social do etarismo e a ideologia da juventude
Fran Winandy (2023), em sua obra Etarismo: um novo nome para um velho preconceito, atualiza o debate proposto por Butler, situando-o nas dinâmicas contemporâneas do mundo do trabalho. A autora demonstra que o mercado corporativo contemporâneo está impregnado por uma ideologia de juventude, na qual a inovação e a agilidade são tomadas como atributos exclusivos dos mais jovens.
Winandy observa que o idoso é “sempre o outro” — o corpo que não se encaixa na estética da performance, na linguagem tecnológica ou nos ritmos acelerados das corporações. O etarismo, portanto, não é apenas exclusão, mas também um dispositivo de controle simbólico que define quem pode pertencer aos espaços de prestígio social.
Ela enfatiza que o mundo “está ficando grisalho”, mas as organizações e as mídias continuam promovendo uma estética da juventude eterna, ocultando a velhice como fase legítima e produtiva da vida.
Ao mesmo tempo, Winandy identifica que o idadismo não é apenas uma questão de sensibilização individual, mas uma estrutura de poder que se alimenta de valores econômicos e culturais. Essa leitura dialoga com Weber ao mostrar que a racionalidade capitalista reifica o tempo de vida e transforma o envelhecimento em obsolescência — uma espécie de “descartabilidade programada” aplicada ao corpo humano.
5. Idade, trabalho e poder: entre racionalização e exclusão simbólica
O mundo do trabalho contemporâneo representa o espaço privilegiado onde essas formas de racionalidade e discriminação se encontram. O idadismo no trabalho é uma expressão da lógica capitalista que valoriza o rendimento imediato e desconsidera o capital de experiência acumulado ao longo da trajetória. Profissionais com mais de 50 anos são frequentemente classificados como “resistentes à mudança” ou “tecnologicamente ultrapassados”, ignorando-se que a experiência é, em si mesma, uma forma de competência.
A leitura weberiana permite compreender que essa exclusão está enraizada na própria estrutura racional das organizações modernas, que privilegiam critérios técnicos e quantitativos de avaliação. O valor do indivíduo passa a ser medido por indicadores de produtividade, e não por sua capacidade reflexiva ou ética. O idadismo, nesse sentido, é uma manifestação da racionalidade instrumental, que subordina o valor humano à utilidade econômica.
Weber alertava para a “gaiola de ferro” da burocracia moderna, onde a vida é administrada segundo princípios impessoais e calculáveis — um ambiente que desumaniza o trabalho e, consequentemente, o envelhecimento.
6. A dimensão simbólica e histórica do envelhecer
Retomando Ariès (1981), pode-se dizer que, assim como a infância foi “inventada” para responder às necessidades de uma sociedade disciplinar e escolar, a velhice foi “reinventada” como uma condição de exclusão social em uma sociedade de mercado.
A transição demográfica do século XXI, marcada pelo aumento da longevidade, não foi acompanhada por uma transformação simbólica equivalente. Vivemos uma contradição: sociedades envelhecidas, mas culturalmente juvenis, nas quais o tempo de vida é estendido, mas o valor social da velhice é diminuído.
Butler e Winandy convergem ao indicar que a superação do idadismo exige mais do que políticas inclusivas; requer uma mudança cultural profunda, capaz de redefinir os sentidos da idade, do trabalho e do valor social do sujeito. Isso implica, segundo a perspectiva weberiana, repensar os fundamentos da racionalidade moderna e suas hierarquias de eficiência e desempenho.
Considerações finais
A construção social da idade revela-se, portanto, como uma expressão complexa das relações de poder, das ideologias e das formas de racionalidade que estruturam a modernidade. Ariès mostra que as idades são invenções históricas; Weber explica por que a racionalidade moderna tende a depreciar a experiência; Butler denuncia a discriminação como sistema cultural; e Winandy atualiza essa crítica no contexto das práticas corporativas e midiáticas contemporâneas.
Em síntese, o idadismo é mais do que um preconceito individual: é um sintoma da racionalidade social moderna, que hierarquiza as vidas segundo sua produtividade e invisibiliza o envelhecer como dimensão legítima da existência humana. Superá-lo exige reconstruir as bases simbólicas do tempo, reconhecendo a pluralidade das idades como expressão da própria condição humana.
Referências:
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1981.
BOC (Org.). Etarismo e diversidade no mercado de trabalho: até quando o profissionalismo será minimizado pelos estereótipos? São Paulo: Editora BOC, 2024.
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
BRASIL. Estatuto da Pessoa Idosa. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Brasília: Presidência da República, 2003.
BUTLER, Robert N. Age-ism: another form of bigotry. The Gerontologist, v. 9, n. 4, p. 243-246, 1969.
CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO (CEBRAP). Envelhecimento e desigualdades raciais. Organização de Priscila Vieira. São Paulo: CEBRAP, 2023.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico 2022: população residente por grupos de idade. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Relatório mundial sobre o idadismo. Washington, D.C.: OPAS, 2022.
SILVA, Mayara; HELAL, Diogo. Envelhecimento e gestão da idade nas organizações: um estudo de múltiplos casos no Poder Executivo do Estado de Pernambuco. Brasília: Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), 2024.
WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1922.
WINANDY, Fran. Etarismo: um novo nome para um velho preconceito. São Paulo: Editora Matrix, 2023.