
Texto para reflexão - Page 4
Texto para reflexão
Estes textos oferecem uma visão diferenciada e interessante sobre vários acontecimentos cuja análise pode ser feita por meio da sociologia.A reflexão é um importante instrumento intelectual para fazer com que o indivíduo consiga perceber a relação entre as estruturas sociais e as biografias individuais.Na Sociologia sempre esteve presente a discussão entre indivíduo e sociedade (agencia vs. estrutura), chegando ao ponto de estudiosos mais radicais, principalmente nas primeiras décadas do século XX, ignorar os estudos que tinham seu foco no indivíduo. Simmel, por exemplo, foi um sociólogo renegado por anos por esse motivo. Bauman e May nos ajudam a entender em quais condições o indivíduo é objeto da Sociologia. Para esses autores “atores individuais tornam-se objeto das observações de estudos sociológicos à medida que são considerados participantes de uma rede de interdependência .Desse modo os textos para reflexão ensejam uma análise de como nós nos relacionamos com nossa estrutura e proporcionam um contraponto discurso do discurso dominante.
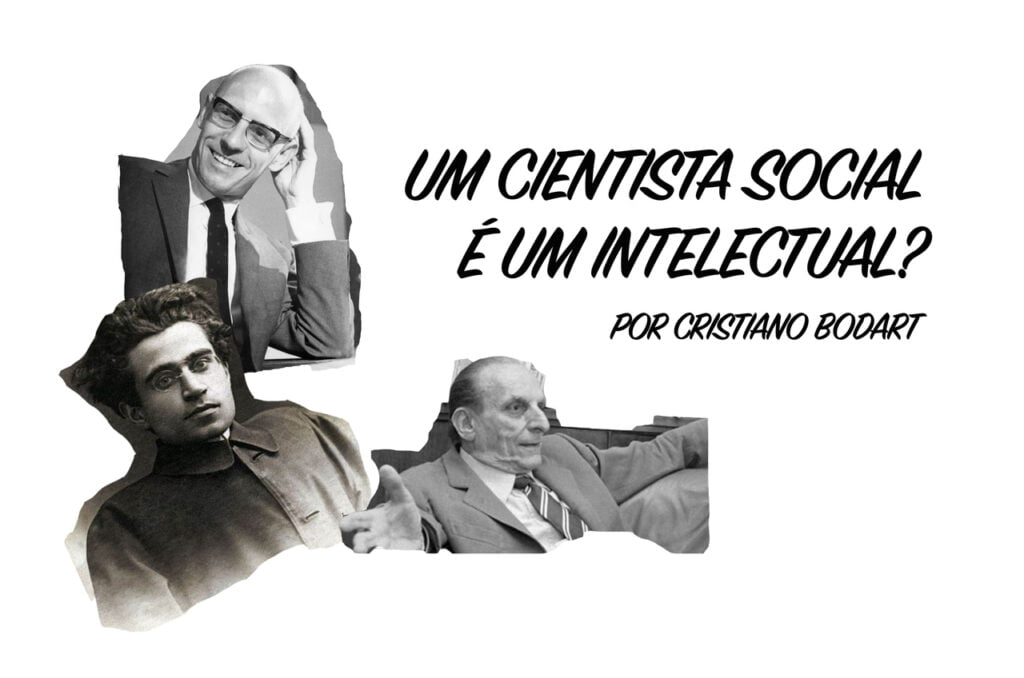
O cientista social é um intelectual?

O que é ser pai e / ou mãe?*
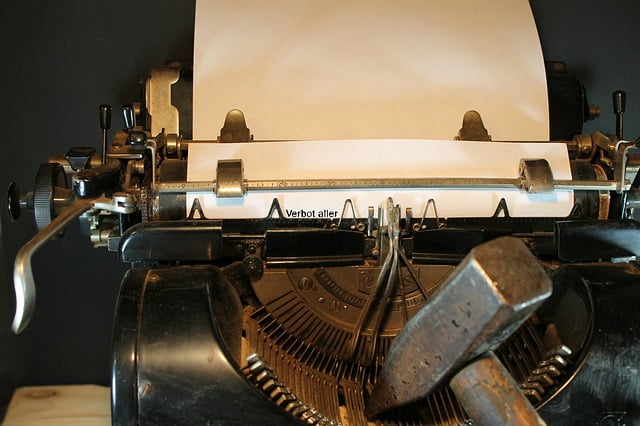
Liberdade de Imprensa e a Democracia: uma nota aos homens públicos (supostamente) desavisados

A influência da TV na nossa vida cotidiana
Categorias
História do Café com Sociologia
O blog foi criado por Cristiano Bodart em 27 de fevereiro de 2009. Inicialmente tratava-se de uma espécie de “espaço virtual” para guardar materiais de suas aulas. Na ocasião lecionava em uma escola de ensino público no Estado do Espírito Santo. Em 2012 o Roniel Sampaio Silva, na ocasião do seu ingresso no Instituto Federal, tornou-se administrador do blog e desde então o projeto é mantido pela dupla.
O blog é uma das referências na temática de ensino de Sociologia, sendo acessado também por leitores de outras áreas. Há vários materiais didáticos disponíveis: textos, provas, dinâmicas, podcasts, vídeos, dicas de filme e muito mais.
Em 2019 o blog já havia alcançado a marca de 9 milhões de acessos.
O trabalho do blog foi premiado e reconhecido na 7º Edição do Prêmio Professores do Brasil e conta atualmente com milhares de seguidores nas redes sociais e leitores assíduos.
Seguimos no objetivo de apresentar aos leitores um conteúdo qualificado, tornando os conhecimentos das Ciências Sociais mais acessíveis.
Direitos autorais
Atribuição-SemDerivações
CC BY-ND
Você pode reproduzir nossos textos de forma não-comercial desde que sejam citados os créditos.
® Café com Sociologia é nossa marca registrada no INPI. Não utilize sem autorização dos editores.

