capital simbólico
Em 2013 a revista do CEBRAP, Novos Estudos (Novos estudos – CEBRAP [online]. 2013, n.96, pp.105-115.) publicou um artigo de Pierre Bourdieu. O artigo foi traduzido pelo professor Fernando Pinheiro (USP). Trata-se daqueles artigos que não podemos deixar de ler, sobretudo se desejamos compreender as questões sociais que envolvem poder, disputa e desigualdade. Segue o artigo:
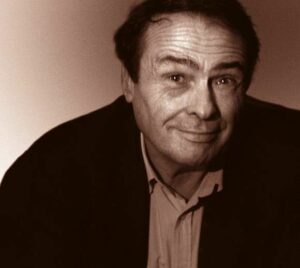
Capital simbólico e classes sociais*
Por Pierre Bourdieu
Ser nobre é esbanjar; é uma obrigação de parecer; é estar condenado, sob pena de aviltamento, ao luxo e à dissipação. Eu diria mesmo que essa tendência à prodigalidade afirmou-se no início do século xiii como reação diante da ascensão social dos novos ricos. Para se distinguir dos vulgos, é preciso superá-los, mostrando-se mais generoso do que eles. O testemunho da literatura aqui é seguro. O que opõe o cavaleiro ao arrivista? O segundo é avaro, o primeiro é nobre porque gasta alegremente tudo que tem, e porque está coberto de dívidas.
(Georges Duby, Homens e estruturas da Idade Média)
Todo empreendimento científico de classificação deve considerar que os agentes sociais aparecem como objetivamente caracterizados por duas espécies diferentes de propriedades: de um lado, propriedades materiais que, começando pelo corpo, se deixam denominar e medir como qualquer outro objeto do mundo físico; de outro, propriedades simbólicas adquiridas na relação com sujeitos que os percebem e apreciam, propriedades essas que precisam ser interpretadas segundo sua lógica específica. Isso significa que a realidade social admite duas leituras diferentes: de um lado, aquela armada de um uso objetivista da estatística para estabelecerdistribuições (no sentido estatístico e também econômico), expressões quantificadas da repartição de uma quantidade finita de energia social entre um grande número de indivíduos em concorrência, apreendidas por meio de “indicadores objetivos” (ou seja, de propriedades materiais); de outro, a leitura voltada a decifrar significações e a lançar luz sobre as operações cognitivas pelas quais os agentes as produzem e decifram.
A primeira orientação visa apreender uma “realidade” objetiva inacessível à experiência comum e revelar “leis”, isto é, relações significativas, no sentido de não aleatórias, entre as distribuições; a segunda toma como objeto não a “realidade”, mas as representações que os agentes dela formam e que fazem toda a “realidade” de um mundo social concebido, à maneira dos filósofos idealistas, como “vontade e representação”. Os objetivistas, que admitem a existência de uma “realidade” social “independente das consciências e das vontades individuais”, fundam as construções da ciência, de maneira bastante lógica, sobre uma ruptura com as representações comuns do mundo social (as “prenoções” durkheimianas); os subjetivistas, que reduzem a realidade social à representação que dela fazem os agentes, tomam por objeto, de maneira bastante lógica, o conhecimento primeiro do mundo social2: simples “relatório de relatórios”, como diz Garfinkel, essa “ciência” que tem como objeto outra “ciência”, aquela que os agentes mobilizam em sua prática, limitam-se a registrar os registros de um mundo social que seria apenas, no limite, o produto de estruturas mentais, ou seja, linguísticas.
Diferentemente de uma física social, a ciência social não pode reduzir-se a um registro das distribuições (em geral contínuas) de indicadores materiais das diferentes espécies de capital. Sem identificar-se jamais com um “relatório de relatórios”, ela deve integrar no conhecimento (especializado) do objeto o conhecimento (prático) que os agentes (os objetos) têm do objeto. Em outros termos, ela deve incorporar ao conhecimento (especializado) da raridade e da concorrência pelos bens raros o conhecimento prático que os agentes adquirem dessa competição ao produzir divisões individuais ou coletivas que são tão objetivas quanto as distribuições estabelecidas pelos balanços contábeis da física social.
O problema das classes sociais oferece uma oportunidade particularmente favorável para captar a oposição entre as duas perspectivas: o antagonismo aparente entre os que querem provar e os que querem negar a existência de classes, que revela concretamente que as classificações são objeto de luta, esconde uma oposição mais importante, concernente à teoria mesma do conhecimento do mundo social. Os que negam a existência de classes adotam, em função de seus propósitos, o ponto de vista da física social, e só querem ver nas classes sociais conceitos heurísticos ou categorias estatísticas arbitrariamente impostas pelo pesquisador, que introduz assim a descontinuidade numa realidade contínua. Os que querem provar a existência de classes sociais procuram fundar sua existência na experiência dos agentes — esforçando-se para estabelecer que os agentes reconhecem a existência de classes diferenciadas segundo seu prestígio, que podem atribuir indivíduos a essas classes em função de critérios mais ou menos explícitos e que pensam a si mesmos como membros de classes.
A oposição entre a teoria marxista, na forma estritamente objetivista que assume o mais das vezes, e a teoria weberiana que distingue entre a classe social e o grupo de status (Stand), definido por propriedades simbólicas como aquelas que formam o estilo de vida, constitui outra forma, também fictícia, da alternativa entre o objetivismo e o subjetivismo: por definição, o estilo de vida só cumpre sua função de distinção para aqueles sujeitos tendentes a reconhecê-lo e a teoria weberiana do grupo de status está muito próxima de todas as teorias subjetivistas das classes que, como a de Warner, introduzem o estilo de vida e as representações subjetivas na constituição das divisões sociais3. Mas o mérito de Max Weber reside no fato de que, longe de apresentá-las como mutuamente excludentes , como a maior parte de seus comentadores e de seus epígonos norte-americanos, ele reúne as duas concepções opostas, colocando assim o problema do duplo enraizamento das divisões sociais na objetividade das diferenças materiais e na subjetividade das representações. No entanto ele dá a essa questão, obscurecendo-a ao mesmo tempo, uma solução ingenuamente realista ao distinguir dois “tipos” de grupo onde há apenas dois modos de existência de todo grupo.
A teoria das classes sociais deve, portanto, superar a oposição entre as teorias objetivistas que assimilam as classes (nem que seja para demonstrar por absurdo sua inexistência) a grupos discretos, simples populações enumeráveis e separadas por fronteiras objetivamente inscritas na realidade, e as teorias subjetivistas (ou, se quisermos, marginalistas ) que reduzem a “ordem social” a uma espécie de classificação coletiva obtida pela agregação das classificações individuais, ou, mais precisamente, das estratégias individuais, classificadas e classificantes, pelas quais os agentes classificam a si e aos outros.
O desafio colocado pelos que se baseiam na continuidade das distribuições para negar a existência de classes sociais dirige-se aos que o tratam como uma má aposta ou um conto do vigário: com efeito, ele não deixa outra escolha senão confrontar, indefinidamente, as enumerações contraditórias das classes sociais encontráveis na obra de Marx ou pedir à estatística que resolva essas novas formas do paradoxo do monte de trigo que ela engendra4 , na mesma operação pela qual revela as diferenças e permite medir com rigor sua amplitude, apagando as fronteiras entre ricos e pobres, burgueses e pequeno-burgueses, habitantes da cidade e do campo, jovens e velhos, moradores da periferia e do centro, e assim por diante. A armadilha se fecha, impiedosamente, sobre aqueles que, em nome do marxismo, nos anunciam hoje, sem rir, à maneira do contador positivista, que os pequeno-burgueses “são, no máximo, 4.311.000”5.
Os sociólogos da continuidade, a maioria “teóricos” puros — no sentido muito ordinário de que suas afirmações não se apoiam em qualquer validação empírica —, ganham sempre ao deixar a seus adversários o ônus da prova experimental. Mas basta invocar Pareto, em quem ordinariamente se apoiam, para responder a eles: “Não podemos traçar uma linha para separar de maneira absoluta ricos e pobres, proprietários de capital fundiário ou industrial e trabalhadores. Muitos autores pretendem deduzir desse fato a consequência de que em nossa sociedade não poderíamos falar de uma classe capitalista, nem opor os burgueses aos trabalhadores”. O que equivale a dizer, continua Pareto, que não existem velhos porque não sabemos em que idade, em que momento da vida começa a velhice.
Quanto a reduzir o mundo social à representação que uns fazem da representação feita por outros, ou, mais precisamente, à agregação das representações (mentais) que cada agente forma a partir das representações (teatrais) que os outros lhe oferecem, isso implica ignorar que as classificações subjetivas estão fundadas na objetividade de uma categorização que não se reduz à classificação coletiva obtida a partir do somatório das classificações individuais: a “ordem social” não se forma a partir das ordens individuais, como se fora resultado de votação ou do preço de mercado6.
A condição de classe que a estatística social apreende por meio de diferentes indicadores materiais da posição nas relações de produção, ou, mais precisamente, das capacidades de apropriação material dos instrumentos de produção material ou cultural (capital econômico) e das capacidades de apropriação simbólica desses instrumentos (capital cultural), determina direta e indiretamente, conforme a posição a ela conferida pela classificação coletiva, as representações de cada agente de sua posição e as estratégias de “apresentação de si” de que fala Goffman, ou seja, sua encenação de sua própria posição. Isso poderia ser mostrado mesmo nos casos mais desfavoráveis, seja no universo das classes médias americanas e suas hierarquias múltiplas e complexas descritas pelo interacionismo simbólico, seja no caso limite representado pelo mundo do esnobismo e dos salões tal como evocado por Marcel Proust7. Esses universos sociais devotados às estratégias de pretensão e de distinção fornecem uma imagem aproximada de um universo em que a “ordem social”, produto de uma espécie de criação contínua, seria a cada instante o resultado provisório e continuamente revogável de uma luta de classes reduzida a uma luta de classificações, a um confronto de estratégias simbólicas visando mudar a posição pela manipulação das representações da posição, como as que consistem, por exemplo, em negar as distâncias (mostrando-se “simples”, fazendo-se “acessível”) para melhor suscitar seu reconhecimento, ou, do contrário, em reconhecê-las ostensivamente para melhor negá-las (numa variante do jogo de Schlemiel descrito por Eric Berne)8.
Esse espaço berkeleyano, em que todas as diferenças estariam reduzidas ao pensamento da diferença, em que as únicas distâncias seriam as que “tomamos” ou as que “mantemos”, é o lugar de estratégias que têm sempre por princípio a busca da assimilação ou da dissimilação: blefar , tentando identificar-se com os grupos marcados como superiores porque assim reputados, ou esnobar , esforçando-se para se distinguir dos grupos identificados como inferiores (segundo a definição célebre, “um esnobe é alguém que despreza a todos que não o desprezam”). Forçar a porta de grupos posicionados acima, mais “fechados”, mais “seletos”; e fechar suas próprias portas a mais e mais pessoas: eis a lei da acumulação do “crédito” mundano. O prestígio de um salão depende do rigor de suas exigências (não se pode receber uma pessoa de pouca reputação sem perder reputação) e da “qualidade” das pessoas recebidas, medida ela mesma pela “qualidade” dos salões que as recebem: as altas e as baixas da bolsa de valores mundanos, registradas pelas publicações mundanas, são medidas por esses dois critérios, num universo de nuances ínfimas que requerem um olho treinado. Num universo em que tudo é classificado, portanto classificante — por exemplo, os lugares em que é preciso ser visto, restaurantes chiques, competições hípicas, conferências, exposições; os espetáculos que é preciso ter visto, Veneza, Florença, Bayreuth, o balé russo; os lugares reservados, salões e clubes privados —, um domínio perfeito das classificações (que os árbitros da elegância se apressam em considerar demodé assim que se tornam muito comuns) é indispensável para obter o melhor rendimento dos investimentos sociais e para evitar ao menos ser identificado com grupos menos cotados. Somos classificados por nossos princípios de classificação: não apenas Odette e Swann, que sabem reconhecer pela simples leitura de uma lista de convidados o nível de sofisticação de um jantar, mas Charlus, Madame Verdurin e o Primeiro Presidente de férias em Balbec dispõem de princípios classificatórios diversos, que os classificam no momento mesmo em que pensam classificar; e isso infalivelmente, porque nada varia tão claramente segundo a posição de alguém na classificação do que sua visão da classificação.
Seria perigoso, no entanto, aceitar sem mais a visão do “mundo” que oferece Proust, aquela do “pretendente” que vê o “mundo” como um espaço a conquistar, ao modo de Madame Swann, cujas saídas tomam sempre a forma de expedições arriscadas, comparadas em algum lugar à guerra colonial. O valor dos indivíduos e dos grupos não é função direta do trabalho mundano do esnobe como sugere Proust ao escrever que “nossa personalidade social é uma criação do pensamento dos outros”9. O capital simbólico dos que dominam a “alta sociedade”, Charlus, Bergotte ou a duquesa de Guermantes, não depende apenas dos desprezos ou das recusas, das indiferenças ou dos ardores, dos signos de reconhecimento e dos testemunhos de descrédito, das marcas de respeito ou de desprezo, de todo o jogo, enfim, dos julgamentos recíprocos. Ele é a forma sublimada de que se revestem realidades tão claramente objetivas como aquelas registradas pela física social, castelos ou terras, títulos de propriedade, de nobreza ou de ensino superior, assim que são transfigurados pela percepção encantada, mistificada e cúmplice, que define em particular o esnobismo (ou, em outro nível, a pretensão pequeno-burguesa). As operações de classificação referem-se não apenas aos índices do julgamento coletivo, mas às posições nas distribuições que esse juízo coletivo já leva em conta. As classificações tendem a esposar as distribuições, contribuindo assim para reproduzi-las. O valor social, crédito ou descrédito, reputação ou prestígio, respeitabilidade ou honorabilidade, não é o produto das representações que os agentes realizam ou fazem de si, e o ser social não é meramente um ser percebido.
Os grupos sociais, e notadamente as classes sociais, existem de algum modo duas vezes, e isso antes mesmo de qualquer intervenção do olhar científico: na objetividade de primeira ordem, aquela registrada pela distribuição das propriedades materiais; e na objetividade de segunda ordem, aquela das classificações e das representações contrastantes que são produzidas pelos agentes na base de um conhecimento prático das distribuições tal como se manifestam nos estilos de vida. Esses dois modos de existência não são independentes, ainda que as representações tenham certa autonomia em relação às distribuições: a representação que os agentes se fazem de sua posição no espaço social (assim como a representação — no sentido teatral, como em Goffman — que realizam) é o produto de um sistema de esquemas de percepção e de apreciação (habitus) que é ele mesmo o produto incorporado de uma condição definida por uma posição determinada quanto à distribuição de propriedades materiais (objetividade 1) e do capital simbólico (objetividade 2) e que leva em conta não somente as representações (que obedecem às mesmas leis) que os outros têm dessa mesma posição e cuja agregação define o capital simbólico (comumente designado como prestígio, autoridade, etc.), mas também a posição nas distribuições retraduzidas simbolicamente no estilo de vida.
Mesmo recusando admitir que as diferenças existam apenas porque os agentes creem ou fazem crer que elas existem, devemos admitir que as diferenças objetivas, inscritas nas propriedades materiais e nos lucros diferenciais que elas trazem, se convertem em distinções reconhecidas nas e por meio das representações que fazem e que formam delas os agentes. Toda diferença reconhecida, aceita como legítima, funciona por isso mesmo como um capital simbólico que obtém um lucro de distinção. O capital simbólico, com as formas de lucro e de poder que assegura, só existe na relação entre as propriedades distintas e distintivas como corpo correto, língua, roupa, mobília (cada uma delas obtendo seu valor a partir de sua posição no sistema das propriedades correspondentes, ele mesmo objetivamente referido ao sistema das posições nas distribuições) e indivíduos ou grupos dotados de esquemas de percepção e de apreciação que os predispõem a reconhecer (no duplo sentido do termo) essas propriedades, ou seja, a instituí-los como estilos expressivos, formas transformadas e irreconhecíveis das posições nas relações de força. Não existe prática ou propriedade (no sentido de objeto apropriado) características de uma maneira particular de viver que não possa ser revestida de um valor distintivo em função de um princípio socialmente determinado de pertinência e expressar assim uma posição social: por exemplo, o mesmo traço “físico” ou “moral”, como um corpo gordo ou magro, uma pele clara ou escura, o consumo ou a abstinência de álcool, podem receber valores (de posição) opostos na mesma sociedade em épocas diferentes ou em diferentes sociedades10. Para uma prática ou uma propriedade funcionar como símbolo de distinção basta que seja posta em relação a qualquer uma das práticas ou das propriedades que lhe são praticamente substituíveis num certo universo social; portanto, que seja recolocada no universo simbólico das práticas e das propriedades que, funcionando na lógica específica dos sistemas simbólicos, a das separações diferenciais, retraduza as diferenças econômicas em marcas distintivas, signos de distinção ou em estigmas sociais. O símbolo de distinção, arbitrário como o símbolo linguístico, recebe as determinações que o fazem parecer como necessário à consciência dos agentes apenas de seu pertencimento às relações de oposição constitutivas do sistema de marcas distintivas que é característico de uma formação social. Isso explica por que, sendo essencialmente relacionais (a palavra distinção já o mostra), os símbolos de distinção, que podem variar completamente conforme o contraponto social a que se opõem, são ainda assim percebidos como atributos inatos de uma “distinção natural”. O que caracteriza os símbolos de distinção, quer se trate do estilo das casas e sua decoração, da retórica do discurso, dos sotaques, ou do corte e cor das roupas, modos à mesa ou disposições éticas, é o fato de que, dada sua função expressiva, eles são de certo modo determinados duas vezes, por sua posição no sistema de signos distintivos e pela relação de correspondência biunívoca que se estabelece entre esse sistema e o sistema das posições nas distribuições de bens. É assim que, sempre que são apreendidas como socialmente pertinentes e legítimas em função de um sistema de classificação, as propriedades deixam de ser apenas bens materiais passíveis de troca e obtenção de lucros materiais para tornar-se expressões, signos de reconhecimento que significam e valem por todo o conjunto de lacunas e distâncias [écarts] em relação às outras propriedades — ou não propriedades. As propriedades incorporadas ou objetivadas funcionam assim como uma espécie de linguagem primordial, pela qual somos falados mais do que falamos, a despeito de todas as estratégias de apresentação de si11. Toda distribuição desigual de bens ou de serviços tende assim a ser percebida como sistema simbólico, ou seja, como sistema de marcas distintivas: distribuições como a dos automóveis, os lugares de residência, os esportes, os jogos de salão são, para a percepção comum, sistemas simbólicos em cujo interior cada prática (ou não prática) recebe um valor, e a soma dessas distribuições socialmente pertinentes desenha o sistema dos estilos de vida, sistema de separações diferenciais engendradas pelo gosto e por ele apreendidas como signos de bom ou mau gosto e ao mesmo tempo como títulos de nobreza capazes de gerar um lucro de distinção tão maior quanto maior for sua raridade distintiva, ou ainda como marca de infâmia.
A teoria objetivista das classes sociais reduz a verdade da classificação social à verdade objetiva dessa classificação, esquecendo-se de inscrever na definição completa do mundo social a verdade primeira contra a qual ela se construiu (e que retorna para assombrar a prática política orientada por essa verdade objetiva sob a forma dos obstáculos que é necessário enfrentar continuamente para impor uma visão do mundo social conforme à teoria). A objetivação científica só está completa quando aplicada também à experiência subjetiva que a obstrui. E a teoria adequada é aquela que integra a verdade parcial captada pelo conhecimento objetivo e a verdade própria da experiência primeira como desconhecimento (mais ou menos permanente e total) dessa verdade; ou seja, o conhecimento desencantado do mundo social e o conhecimento do reconhecimento como conhecimento encantado ou mistificado de que o mundo social é objeto na experiência primária.
O desconhecimento dos fundamentos reais das diferenças e dos princípios de sua perpetuação é o que faz com que o mundo social seja percebido não como o espaço do conflito ou da concorrência entre grupos de interesses antagônicos, mas como “ordem social”. Todo reconhecimento é desconhecimento: toda espécie de autoridade, e não apenas aquela que se impõe por meio de ordens, mas aquela exercida sem nos darmos conta, aquela que dizemos natural e que está sedimentada numa linguagem, numa atitude, nas maneiras, num estilo de vida, ou mesmo nas coisas (cetros e coroas, arminho e toga noutro tempo, quadros e móveis antigos, carros ou escritórios de luxo hoje), repousa sobre uma forma de crença originária, mais profunda e mais desenraizável do que o nome sugere. Um mundo social é um universo de pressuposições : os jogos e os objetivos que ele propõe, as hierarquias e as preferências que impõe, o conjunto das condições tácitas de pertencimento, isso que parece óbvio para quem está dentro e que é investido de valor aos olhos dos que querem entrar, tudo isso está definitivamente assentado sobre o acordo imediato entre as estruturas do mundo social e as categorias de percepção que constituem a doxa , ou, como dizia Husserl, a protodoxa , percepção automática do mundo social como mundo natural12. O objetivismo, que reduz as relações sociais à sua verdade objetiva de relações de força, esquece que essa verdade pode ser recalcada por um efeito da má-fé coletiva e da percepção encantada que as transfigura em relações de dominação legítima, autoridade ou prestígio.
Todo capital, sob qualquer forma que se apresente, exerce uma violência simbólica assim que é reconhecido, ou seja, desconhecido em sua verdade de capital, e impõe-se como autoridade exigindo reconhecimento. O capital simbólico seria outro modo de designar o que Max Weber chama de carisma se, prisioneiro da lógica das tipologias realistas, aquele que sem dúvida melhor compreendeu que a sociologia da religião era um capítulo, e não o menor, da sociologia do poder, não tivesse feito do carisma uma forma particular do poder em vez de ver nele uma dimensão de todo poder, ou seja, outro nome da legitimidade, produto do reconhecimento ou do desconhecimento, ou da crença (esses quase sinônimos) “em virtude da qual as pessoas que exercem autoridade são dotadas de prestígio”. A crença define-se pelo desconhecimento do crédito que ela confere a seu objeto e que contribui para os poderes que esse objeto tem sobre ela, nobreza, notoriedade, prestígio, reputação, honra, renome, ou ainda dom, talento, inteligência, cultura, distinção, gosto — projeções da crença coletiva que a crença crê descobrir na natureza de seus objetos. Esnobismo ou pretensão são disposições de crentes, incessantemente assombrados pelo medo do erro, da falha no tom ou do pecado contra o gosto e inevitavelmente dominados pelos poderes transcendentes a que se entregam pelo simples fato de reconhecê-los, arte, cultura, literatura, alta costura ou outros fetiches da alta sociedade13 e pelos depositários desses poderes, árbitros arbitrários da elegância, costureiros, pintores, escritores ou críticos, simples criações da crença social que exercem um poder real sobre os crentes, quer se trate do poder de consagrar os objetos materiais transferindo para eles o sagrado coletivo ou do poder de transformar as representações daqueles que delegam a elas seu poder. A crença, adesão que ignora o fato de que faz existir aquilo a que adere, não sabe ou não quer saber que tudo o que faz o encanto intrínseco de seu objeto, seu carisma, é apenas o produto de inumeráveis operações de crédito ou descrédito, todas igualmente inconscientes de sua verdade, que se realizam no mercado de bens simbólicos e que se materializam em símbolos oficialmente reconhecidos e garantidos, signos de distinção, índices de consagração e diplomas de carisma como os títulos de nobreza ou os títulos escolares, marcas de respeito objetivadas exigindo as marcas de respeito, pompa e aparato que têm por efeito não somente manifestar a posição social como também o reconhecimento coletivo que lhe conferimos pelo simples fato de autorizá-lo a fazer semelhante demonstração de sua importância. Por oposição à pretensão, lapso entre a importância que o sujeito se reconhece e aquela que o grupo lhe reconhece, entre aquilo que ele “se permite” e o que lhe é permitido, entre as pretensões e as ambições legítimas, a autoridade legítima se afirma e se impõe como tal no fato de não ter nada a fazer além de existir para que se imponha14. Operação fundamental da alquimia social, a transformação de uma espécie qualquer de capital em capital simbólico, possessão legítima fundada na natureza de seu possuidor, supõe sempre uma forma de trabalho, um gasto visível (sem ser necessariamente ostentatório) de tempo, de dinheiro e de energia, uma redistribuiçãoque é necessária para assegurar o reconhecimento da distribuição, sob a forma do reconhecimento prestado pelo que recebe àquele que, mais bem colocado na escala, tem a possibilidade de dar, reconhecimento de dívida que é também reconhecimento de valor15. O estilo de vida é a primeira e talvez hoje a mais fundamental dessas manifestações simbólicas, vestimenta, mobiliário ou qualquer outra propriedade que, funcionando segundo a lógica do pertencimento e da exclusão, exibem as diferenças de capital (entendido como capacidade de apropriação de bens raros e dos lucros correlatos) sob uma forma tal que escapem à brutalidade injustificável do fato, do dado bruto, simples insignificância ou pura violência, para aceder a essa forma de violência desconhecida e denegada, e portanto afirmada e reconhecida como legítima, que é a violência simbólica16. É assim que o “estilo de vida” e a “estilização da vida” transfiguram as relações de força em relações de sentido, em sistema de signos que, sendo “definidos”, como diz Hjelmslev, “não positivamente por seu conteúdo, mas negativamente por sua relação com os outros termos do sistema”17, estão predispostos em uma espécie de harmonia preestabelecida a exprimir o lugar na escala: ainda que derivem seu valor de sua posição num sistema de oposições e que sejam apenas aquilo que os outros não são, os estilos de vida — e os grupos que eles distinguem — parecem não ter outro fundamento senão as disposições naturais de seu portador, tal qual essa distinção que dizemos “natural” ainda que, o termo o diz, exista apenas na e pela relação contrastante com as disposições mais comuns , isto é, estatisticamente mais frequentes. Com a distinção natural o privilégio encerra sua própria justificação. A teatralização legitimadora de que se acompanha sempre o exercício do poder estende-se a todas as práticas e em particular ao consumo que não tem necessidade de ser inspirado pela busca de distinção para ser distintivo, como a apropriação material e simbólica de obras de arte, que parece ter por único princípio as disposições da pessoa em sua singularidade insubstitu&iacut e;vel. Como os símbolos religiosos em outros modos de dominação, os símbolos do capital cultural, incorporado ou objetivado, contribuem para a legitimação da dominação; e a arte de viver dos detentores do poder contribui para o poder que a torna possível porque suas verdadeiras condições de possibilidade permanecem ignoradas, e ele pode ser percebido não apenas como a manifestação legítima do poder, mas como o fundamento da legitimidade18. Os “grupos de status” fundados num “estilo de vida” e numa “estilização da vida” não são, como acreditava Weber, uma espécie de grupo diferente das classes, mas classes denegadas ou, se quisermos, sublimadas, e, assim, legitimadas.
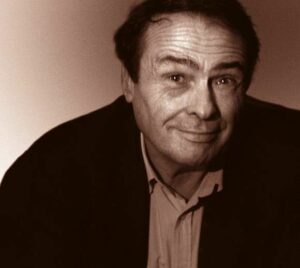
PIERRE BOURDIEU foi titular da cadeira de sociologia do Collége de France, onde dirigiu o Centre de sociologie européene (Paris), a revista Actes de La recherche em sciences sociales e a editora Raisons de Agir até seu falecimento em 2002. É autor de diversos clássicos das ciências sociais. Entre eles estão A reprodução (1970),Esboço de uma teoria da prática (1972), A distinção (1979), Homo Academicus (1984), As regras da arte (1992) e Meditações pascalianas (1997).
[*] Publicado originalmente em L’Arc, nº 72, 1978. A presente versão ampliada foi publicada em Journal of Classical Sociology, vol. 13, nº 2, maio de 2013.
NOTAS:
[1] Duby, Georges. Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme. Paris: Gallimard, [ Links ] 1978. [Ed. port. As três ordens ou o imaginário do feudalismo. Lisboa: Estampa, 1994.]
[2] Considerando aqui apenas essa forma da física social (representada, por exemplo, por Durkheim) que concorda com a cibernética social ao admitir que só podemos conhecer a “realidade” usando instrumentos lógicos de classificação, não pretendemos negar a afinidade particular entre a energética social e a inclinação positivista a ver as classificações seja como recortes arbitrários e “operacionais” (como as classes de idade ou faixas de renda), seja como cisões “objetivas” (descontinuidades das distribuições ou inflexões das curvas) que bastaria registrar. Quero apenas sublinhar que a alternativa fundamental não se estabelece entre a “perspectiva cognitiva” e o behaviorismo (ou outra forma qualquer de mecanismo), mas entre uma hermenêutica das relações de sentido e uma mecânica das relações de força.
[3] Warner, Lloyd W. Social class in America: the evaluation of status. Nova York: Harper&Row, [ Links ]1960. [LW]
[4] O paradoxo do monte de trigo é um dos diversos sorites formulados por Eubulides de Mileto (350 a.C.), pupilo de Sócrates e fundador da escola de lógica de Mégara. É também conhecido como o argumento do “pouco a pouco”: se um grão de trigo não faz um monte, então dois tampouco fazem; mil tampouco. A premissa é verdadeira, mas a conclusão falsa devido à indeterminação dos predicados. [LW]
[5] Bourdieu se refere aqui ao livro de Christian Baudelot, Roger Establet e Jacques Malemort, La petite bourgeoisie en France (Paris: Maspéro, 1974), no qual os autores, usando uma definição estritamente objetivista de classe baseada na fonte de renda, desenvolvem um esquema bizantino de contabilidade que os permite enumerar a pequena burguesia. [LW]
[6] Eis um exemplo particularmente característico desse marginalismo social: “Cada indivíduo é responsável pela imagem de sua conduta e a imagem de deferência de outros, de maneira que para expressar um homem completo, os indivíduos devem dar-se as mãos em uma cadeia de cerimônia, cada um dando à pessoa à sua direita, com conduta adequada, o que recebe com deferência da pessoa à sua esquerda” (Goffman, E. “The nature of deference and demeanour”. American Anthropologist, 58, jun. 1956, pp. 473- [ Links ]502).
[7] Goffman, E. The presentation of self in everyday life. Nova York: Penguin, 1990 [ [ Links ]1958]. [Ed. bras.: A representação do eu na vida cotidiana. Trad. Maria Célia Santos. Petrópolis: Vozes, 1996]. [LW]
[8] Games people play, de Eric Berne (Nova York: Ballantine Books, 1964), é uma análise transacional da estrutura das interações sociais e das motivações por trás delas. [LW]
[9] Proust,M. A la recherche du temps perdu. Paris: Gallimard (La Pléiade), 1913, vol. 1, [ Links ] p. 19 [Ed. bras.: No caminho de Swann. Em busca do tempo perdido, vol. 1. Trad. Mario Quintana. São Paulo: Globo, 2006.]; e Goffman: “o indivíduo deve se valer dos outros para completar a imagem que tem de si” (Goffman, “The nature of deference and demeanour”, op. cit.).
[10] Joseph Gusfield mostra, num belo livro, como a abstinência, que era no século xix nos Estados Unidos o símbolo por excelência de pertencimento à burguesia, foi pouco a pouco sendo repudiada nos mesmos meios em prol do consumo moderado de álcool, que se tornou elemento de um novo estilo de vida, mais “descontraído”. (Gusfield, J. R. Symbolic Crusade: status politics and the American temperance movement. Urbane/Londres: University of Illinois Press, 1966). [ Links ]
[11] A própria linguagem revela sempre, além do que ela diz, a posição social daquele que fala (por vezes diz apenas isso), devido à posição que ocupa – o que Troubetzkoy chama seu “estilo expressivo” – no sistema desses estilos. [Ver Troubetzkoy, N. Principles of phonology, livro que Bourdieu traduziu para o francês para a série “Le sens commun”, que dirigia nas Éditions de Minuit. (LW)]
[12] Ver Husserl, Edmund. Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy.First book: General introduction to a pure phenomenology. Hague: Martinus Nijhoff, [ Links ]1983 [1913]. [Ed. bras. Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica. Trad. Marcio Suzuki. São Paulo: Ideias e Letras, 2006]. [LW]
[13] Bourdieu, P. e Deslaut, Y. “Le couturier et sa griffe: contribuition à une theorie de la magie”. Actes de la recherché en sciences socials, 1(1), 1975, pp. 7- [ Links ]36. [Ed. bras.: “O costureiro e sua grife: contribuição a uma teoria da magia”. In: A produção da crença: contribuição para uma economia dos bens simbólicos. Trad. Guilherme João de Freitas Teixeira e Maria da Graça Jacintho Setton.Porto Alegre: Zouk, [ Links ] 2008]. [LW]
[14] Todo agente deve, a cada momento, levar em conta o preço que lhe é dado no mercado de bens simbólicos e que define o que ele pode se permitir (entre outras coisas, aquilo que ele pode pretender e aquilo de que pode legitimamente apropriar-se num universo em que todos os bens estão hierarquizados). O senso do valor fiduciário (que, em certos universos, como o campo intelectual e artístico, pode ser todo o valor) orienta as estratégias que, para serem reconhecidas, devem situar-se na justa altura, nem tão alto (pretensão) nem tão baixo (vulgaridade, falta de ambição) e em particular as estratégias de dissimilação e assimilação a outros grupos que podem desafiar, em certos limites, as distâncias reconhecidas (mostramos noutra parte como o “envelhecimento” do artista é, em parte, um efeito do crescimento do capital simbólico e da evolução correlata das ambições legítimas).
[15] Nas sociedades pré-capitalistas esse trabalho de transmutação impõe-se com um rigor particular porque a acumulação de capital simbólico é, o mais das vezes, a única forma de acumulação possível, de fato e de direito. De modo geral, quanto maior for a censura às manifestações diretas do poder do capital (econômico ou mesmo cultural), mais o capital deve ser acumulado sob a forma de capital simbólico.
[16] Quanto menor o grau de familiaridade, mais as operações ordinárias de classificação precisam apoiar-se no simbolismo para inferir a posição social: nas vilas ou pequenas cidades o julgamento social pode apoiar-se sobre um conhecimento quase exaustivo das características econômicas e sociais mais determinantes; nos encontros ocasionais e anônimos da vida urbana, ao contrário, o estilo e o gosto contribuem sem dúvida de modo bem mais determinante para orientar o julgamento social e as estratégias postas em ação nas interações.
[17] A citação correta é na verdade de Fernand de Saussure, Cours de linguistique générale (Paris: Paillot, 1968). Essa proposição foi desenvolvida por Hjelmslev e o Círculo Linguístico de Copenhague. Ver Louis Hjelmslev. Prolegomena to a theory of language. Madison: University of Winsconsin Press, 1961 [ [ Links ]1943]. [LW]
[18] Isso significa que a análise do campo do poder como sistema de posições de poder é inseparável da análise das propriedades (no duplo sentido) dos agentes que ocupam essas posições e da contribuição que elas trazem para a perpetuação do poder pelos efeitos simbólicos que exercem.
O Artigo poder ser acessado no endereço de publicação original, aqui














Texto imprescindível para tratarmos da categoria classes sociais. Grato ao Café com Sociologia.
Sem palavras. Texto totalmente construtivo e didático. Obrigado e parabéns!