Universalismo em foco: diálogos entre moralidade, cultura e sociedade
Introdução
A discussão entre universalismo e relativismo ocupa um lugar de destaque nas Ciências Sociais, especialmente nos debates sobre moralidade, justiça e direitos humanos. Tais conceitos desafiam teóricos e pesquisadores a responderem questões fundamentais: existem princípios morais válidos em todas as culturas? Ou a moralidade é sempre moldada pelo contexto sociocultural? A partir dessas perguntas centrais, a presente análise propõe uma abordagem crítica, aprofundada e dialógica sobre o conceito de universalismo, estabelecendo pontes com a psicologia moral, a filosofia, a antropologia e, sobretudo, com a sociologia.
O estudo de Angela Biaggio (1999), que tem como foco central o julgamento moral e a tensão entre universalismo e relativismo, constitui uma referência fundamental para este texto. A autora apresenta uma ampla revisão de autores como Piaget, Kohlberg, Turiel, Shweder, Gilligan, Rest e Lourenço, articulando distintas perspectivas teóricas sobre os fundamentos e os limites da moralidade humana. Em diálogo com esses autores, buscamos compreender até que ponto é possível sustentar uma moralidade universal e quais os riscos de ignorar as especificidades culturais em nome de princípios tidos como absolutos.
Ademais, a sociologia, enquanto ciência voltada à análise das formas de organização da vida em sociedade, fornece instrumentos conceituais e metodológicos para problematizar o universalismo não apenas como categoria moral, mas também como categoria política, epistemológica e histórica. Ao longo deste texto, será possível perceber que o debate entre universalismo e relativismo é mais do que uma disputa teórica: é um terreno onde se entrecruzam lutas por reconhecimento, poder, identidade e justiça.
A origem kantiana do universalismo moderno
O universalismo moderno tem raízes profundas no pensamento de Immanuel Kant. Em sua obra “Fundamentação da Metafísica dos Costumes”, Kant propõe uma moralidade baseada na razão pura, na qual os princípios éticos devem ser universalizáveis — isto é, válidos para todos os seres racionais, independentemente de contextos históricos ou culturais. Para ele, a máxima moral é agir de tal forma que a ação possa ser transformada em uma lei universal. A dignidade da pessoa humana, nesse sentido, está ancorada em sua capacidade racional de legislar moralmente para si mesma.
Essa perspectiva kantiana exerceu forte influência em autores como Jean Piaget e Lawrence Kohlberg, que, em diferentes momentos do século XX, buscaram sistematizar o desenvolvimento da moralidade a partir de estágios evolutivos, comuns a todas as culturas. Piaget, por exemplo, identificou uma progressão do julgamento moral infantil, que passa de uma moralidade heterônoma — baseada na autoridade e na obediência — para uma moralidade autônoma, centrada na equidade e nas intenções (Piaget, 1932 apud Biaggio, 1999).
Já Kohlberg (1984), ao propor seus seis estágios do desenvolvimento moral, divididos em três níveis — pré-convencional, convencional e pós-convencional —, reforça a ideia de que os indivíduos percorrem uma trajetória universal em direção a formas mais complexas e refinadas de julgamento moral, sendo o estágio pós-convencional aquele no qual valores de justiça, direitos humanos e princípios éticos autônomos são plenamente incorporados.
A sociologia, especialmente em sua vertente crítica, não ignora essas contribuições, mas ressalta os limites de uma abordagem que pretende descrever o desenvolvimento moral de maneira linear, progressiva e descontextualizada. Como afirma Giddens (2005), as normas sociais e os valores morais estão sempre enraizados em sistemas culturais e instituições sociais. Assim, ainda que se reconheça a existência de valores compartilhados entre diferentes sociedades, é necessário compreender as mediações históricas e culturais que dão sentido a esses valores.
Universalismo versus relativismo: um falso dilema?
Na obra de Biaggio (1999), o confronto entre o universalismo e o relativismo é apresentado de forma crítica e multifacetada. De um lado, temos autores como Kohlberg, Rest e Lourenço, que defendem a existência de uma sequência evolutiva do julgamento moral e a possibilidade de princípios éticos universais. De outro, destacam-se Shweder e Gilligan, que ressaltam o papel da cultura, do gênero e das práticas sociais na conformação dos juízos morais. Em posição intermediária, surgem nomes como Turiel e Nucci, que tentam conciliar ambas as perspectivas.
O antropólogo Richard Shweder (1987), por exemplo, desafia as teorias universalistas ao demonstrar que, em sociedades como a indiana, regras culturais são percebidas como moralmente vinculantes, mesmo quando contradizem princípios ocidentais de justiça e autonomia. A partir de sua pesquisa comparativa entre crianças dos Estados Unidos e da Índia, Shweder conclui que os padrões morais não podem ser explicados apenas por uma lógica de estágios universais, mas são, em grande medida, produto de formas culturais específicas de viver, sentir e pensar.
Essa posição encontra eco em autores das Ciências Sociais como Clifford Geertz, que insiste na necessidade de compreender as culturas “a partir de dentro”, rejeitando a imposição de valores universais que ignoram a complexidade e a particularidade dos contextos sociais. Para Geertz (1989), interpretar o comportamento humano exige sensibilidade às teias de significados que sustentam a vida em sociedade.
Contudo, a defesa radical do relativismo cultural também encontra críticas contundentes. Angela Biaggio (1999), ao analisar a posição de Shweder, questiona até que ponto o respeito à diversidade cultural pode justificar práticas que violam direitos humanos fundamentais, como o suttee — ritual de imolação de viúvas na Índia. Segundo a autora, é necessário distinguir entre um pluralismo moral legítimo e um relativismo ético que pode se tornar cúmplice de injustiças e opressões.
Nessa linha, Orlando Lourenço (1996) propõe uma defesa crítica do universalismo, afirmando que é possível sustentar valores universais, como a justiça e a dignidade humana, sem incorrer em etnocentrismo. Para ele, negar a existência de estágios mais desenvolvidos de julgamento moral pode levar ao niilismo ético, no qual todas as formas de moralidade são igualmente válidas, independentemente de seus efeitos sobre os indivíduos e coletividades.
Contribuições intermediárias: Turiel, Nucci e a teoria dos domínios
Entre as posições extremas do universalismo kantiano e do relativismo cultural radical, emergem teorias que buscam um meio-termo, destacando a complexidade dos processos morais e sua relação com os contextos sociais. Um dos principais nomes dessa vertente é Elliot Turiel, que propôs a teoria dos domínios sociais. Segundo Turiel (1983), o desenvolvimento moral não ocorre de forma linear e unificada, como supunham Kohlberg e Piaget, mas sim em domínios distintos: o moral, o convencional e o pessoal.
No domínio moral, estão os princípios relacionados à justiça, ao bem-estar e aos direitos dos indivíduos, como não causar dano ao outro. Já o domínio convencional envolve normas arbitrárias de convivência social, como regras de etiqueta ou formas de saudação. Por fim, o domínio pessoal abrange escolhas individuais que não têm implicações sociais ou éticas diretas, como preferências estéticas ou alimentares.
Essa distinção permite compreender que, desde a infância, os sujeitos são capazes de diferenciar normas impostas pela autoridade das normas morais propriamente ditas. Para Turiel, esse discernimento se dá de maneira universal, embora sua manifestação possa variar culturalmente. Como aponta Biaggio (1999), Turiel busca evitar tanto o universalismo rígido quanto o relativismo absoluto, admitindo a influência cultural, mas sustentando uma base moral comum.
Larry Nucci, discípulo de Turiel, reforça essa concepção ao enfatizar o papel da agência individual no julgamento moral. Para ele, crianças de diferentes culturas reconhecem desde cedo que certas ações, como agredir ou roubar, são erradas independentemente das normas culturais. Assim, Nucci (1981) rejeita hierarquias estáticas de estágios morais, mas mantém a ideia de que existem princípios morais fundamentais compartilhados entre as culturas.
Essa perspectiva dialoga com o conceito de “ética mínima” proposto por Adela Cortina (2005), segundo a qual deve haver um núcleo moral mínimo, comum a todas as sociedades, capaz de sustentar os direitos humanos e a convivência democrática. A ética mínima não ignora a diversidade cultural, mas estabelece parâmetros éticos essenciais para a dignidade humana.
Contudo, essas posições intermediárias também foram alvo de críticas. James Rest, ex-aluno de Kohlberg, argumenta que a teoria dos domínios de Turiel carece de evidência empírica robusta para sustentar uma sequência evolutiva clara. Em suas análises (Rest et al., 1997), ele aponta que os estudos de Turiel e Smetana são inconclusivos e, por vezes, inconsistentes quanto à relação entre idade e julgamento moral. A ausência de progressão mensurável enfraqueceria a tese de que os domínios evoluem paralelamente.
Uma moralidade em fluxo: a visão de Rest
Apesar de suas críticas a Turiel e Shweder, Rest também se distancia de um universalismo rígido. Em sua abordagem denominada “neo-kohlbergiana”, ele propõe a ideia de uma moralidade em fluxo, que se constrói a partir da experiência social, da reflexão individual e do equilíbrio reflexivo entre valores. Essa concepção dialoga com a filosofia moral contemporânea, especialmente com autores como John Rawls, que sustentam que a justiça é produto de consenso racional em uma sociedade pluralista.
A proposta de Rest é especialmente relevante por sua base empírica sólida. Utilizando o instrumento Defining Issues Test (DIT), ele coletou dados de mais de 45 mil sujeitos em diferentes culturas, comprovando a existência de pensamento pós-convencional, tal como proposto por Kohlberg. Segundo Biaggio (1999), as análises do DIT revelam três fatores centrais: interesse pessoal, manutenção de normas e raciocínio pós-convencional — os quais estariam presentes em diferentes graus nos julgamentos morais das pessoas ao redor do mundo.
Rest enfatiza que é possível falar em universalismo moral desde que se reconheça a historicidade dos valores e a diversidade de suas manifestações. Essa moralidade flexível permite, por exemplo, compreender que o respeito à vida é um valor amplamente compartilhado, mas sua aplicação pode variar conforme as normas e crenças locais. Assim, ele rejeita tanto o relativismo total quanto o universalismo dogmático, defendendo uma moralidade construída, argumentada e compartilhada.
A perspectiva da psicologia transcultural: Eckensberger e Snarey
Outro campo fundamental para o debate entre universalismo e relativismo é o da psicologia transcultural. Lutz Eckensberger, ao analisar os estudos de Piaget e Kohlberg em diferentes contextos culturais, reconhece a influência da cultura, mas sustenta que certas dimensões do desenvolvimento moral, como a autonomia e a responsabilidade subjetiva, aparecem de forma recorrente em sociedades diversas (Eckensberger, 1996).
Para ele, a distinção feita por Piaget entre sociedades tradicionais e modernas ajuda a explicar as variações na expressão moral. Em sociedades tradicionalistas, a moral tende a ser mais rígida, baseada na autoridade e na punição. Já nas modernas, observa-se maior ênfase na equidade, na reflexão crítica e na autonomia. Isso, no entanto, não significa que os princípios morais sejam puramente culturais, mas que a cultura molda a forma como esses princípios são vivenciados e transmitidos.
Complementando essa visão, John Snarey (1985) realizou uma ampla revisão de estudos em 27 culturas distintas, concluindo que a sequência proposta por Kohlberg — do pré-convencional ao pós-convencional — aparece, com variações, em todos os contextos investigados. Em estudos posteriores, Snarey e Keljo (1991) admitem, no entanto, que a cultura influencia a incidência e a predominância de certos estágios, sendo mais comum encontrar o pensamento pós-convencional em sociedades com tradição democrática e valorização da educação formal.
Essas evidências sugerem que o universalismo moral não se opõe necessariamente à diversidade cultural. Ao contrário, apontam para a existência de uma estrutura comum de desenvolvimento moral, sobre a qual incidem múltiplas formas de expressão, determinadas por fatores históricos, políticos, religiosos e educacionais.
O universalismo à luz da sociologia: tensões entre globalização, multiculturalismo e moralidade
As Ciências Sociais, especialmente a sociologia, ampliam o debate sobre o universalismo ao incorporar dimensões estruturais, históricas e políticas nas análises sobre moralidade. A questão não se resume a saber se há ou não princípios morais universais, mas a compreender como esses princípios são disputados, legitimados e institucionalizados em diferentes contextos sociais.
Autores como Boaventura de Sousa Santos (2001) propõem uma crítica contundente ao universalismo eurocêntrico, denunciando sua função como instrumento de dominação simbólica e epistemológica. Para ele, o universalismo ocidental muitas vezes se impôs como norma civilizatória, apagando saberes locais, cosmologias indígenas, valores africanos e tradições asiáticas. Esse “universalismo hegemônico” teria promovido uma monocultura do saber e uma monocultura do tempo, deslegitimando formas alternativas de organização social e de conceber a justiça.
Nesse sentido, a sociologia pós-colonial introduz o conceito de pluralismo epistemológico, que reconhece a existência de múltiplas racionalidades morais e jurídicas. Ao invés de um universalismo abstrato e imposto, o que se propõe é um “universalismo de base”, construído a partir do diálogo intercultural e do reconhecimento das lutas por justiça em diferentes partes do mundo.
Contudo, o próprio Boaventura admite que alguns valores precisam ser afirmados como universais mínimos, especialmente no que se refere aos direitos humanos. A dignidade da pessoa, a igualdade de gênero, o combate à tortura, a proteção da infância, entre outros, devem ser princípios irrenunciáveis. O desafio está em construir esses consensos sem silenciar vozes dissidentes nem naturalizar o padrão ocidental como medida única da moralidade.
Direitos humanos: um universalismo em construção
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) é frequentemente citada como o principal documento a expressar o ideal de um universalismo ético. Formulada após os horrores da Segunda Guerra Mundial, ela busca garantir a todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo, os direitos básicos à vida, à liberdade, à segurança, à educação, entre outros.
Para pensadores como Norberto Bobbio (1992), os direitos humanos são resultado de lutas históricas e não de concessões morais. Seu caráter universal não é derivado de uma razão transcendental, mas da construção de pactos sociais e jurídicos que consagram, progressivamente, os valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade.
No entanto, a aplicação desses direitos encontra obstáculos práticos e teóricos. De um lado, há países e grupos que rejeitam os direitos humanos em nome da soberania cultural, do nacionalismo ou de tradições religiosas. De outro, há o risco de os direitos humanos serem utilizados como instrumento de intervenção seletiva por potências ocidentais, o que compromete sua legitimidade. Como aponta Sousa Santos (2001), o universalismo dos direitos humanos só será efetivo se se tornar também multicultural e dialógico.
Essa visão é compartilhada por Seyla Benhabib (2005), que defende um “universalismo deliberativo”, baseado na possibilidade de justificar princípios morais por meio do discurso racional entre sujeitos iguais. Em sua obra, Benhabib articula o pensamento habermasiano com as demandas do multiculturalismo, propondo que normas morais sejam validadas por meio do que ela chama de “comunidades de interlocução”, nas quais todos tenham voz e possibilidade de argumentação.
No campo empírico, Angela Biaggio (1999) observa que, apesar das variações culturais, há um núcleo de valores que aparece de forma recorrente em diferentes culturas: a proteção da vida, o respeito ao outro, a lealdade e a justiça distributiva. Esses valores, embora formulados e interpretados de formas distintas, indicam a existência de um padrão moral compartilhado que pode servir de base para a construção de direitos universais sem ignorar a diversidade cultural.
Multiculturalismo, relativismo e os riscos da neutralidade
O multiculturalismo, enquanto política de reconhecimento, busca garantir o direito à diferença em sociedades marcadas pela pluralidade étnica, religiosa e identitária. Sua premissa é que a igualdade substantiva só é possível se houver respeito às particularidades culturais dos grupos sociais.
Autores como Charles Taylor (1994) argumentam que o reconhecimento das identidades culturais é fundamental para a autoestima e a dignidade dos indivíduos. No entanto, o multiculturalismo também enfrenta dilemas quando práticas culturais entram em conflito com direitos considerados universais. Casos como mutilação genital feminina, casamentos forçados ou punições corporais suscitam debates acalorados sobre os limites do relativismo cultural.
Nesse contexto, o sociólogo Zygmunt Bauman (1999) aponta para o risco de uma “neutralidade cúmplice”, em que o respeito à diversidade se transforma em omissão diante da injustiça. Para Bauman, é necessário distinguir entre práticas culturais legítimas e aquelas que violam a dignidade humana. O critério para essa distinção não pode ser apenas cultural, mas deve incluir a capacidade de escuta, empatia e crítica racional.
A antropóloga Martha Nussbaum (2000), por sua vez, propõe um modelo de universalismo baseado nas capacidades humanas. Segundo ela, todas as pessoas devem ter acesso a um conjunto básico de condições que permitam desenvolver plenamente suas potencialidades — como educação, saúde, liberdade de expressão e segurança. Essas capacidades formariam um “mínimo moral” para a convivência global, que poderia ser adaptado, mas não negado por razões culturais.
Dessa forma, o desafio das Ciências Sociais é duplo: reconhecer a pluralidade das formas de vida sem abrir mão de princípios éticos fundamentais. Trata-se de construir uma ética intercultural, que seja ao mesmo tempo sensível à diversidade e comprometida com a justiça.
Implicações políticas do universalismo: entre o cosmopolitismo e o reconhecimento
O universalismo, ao propor princípios morais e éticos válidos para toda a humanidade, inevitavelmente adentra o campo político. A formulação de normas internacionais, a atuação de organismos multilaterais e a disseminação dos direitos humanos são expressões contemporâneas do ideal cosmopolita. Inspirado em Kant, o cosmopolitismo busca estabelecer uma ordem normativa global, onde todos os indivíduos sejam reconhecidos como cidadãos do mundo, independentemente de sua nacionalidade, etnia ou religião.
Pensadores como Ulrich Beck (2001) sustentam que, em um mundo globalizado e interdependente, o cosmopolitismo não é mais uma escolha ideológica, mas uma necessidade prática. As crises ambientais, os fluxos migratórios e as desigualdades globais exigem respostas éticas que transcendam as fronteiras nacionais. Nesse sentido, o universalismo ético se apresenta como horizonte normativo para enfrentar os desafios globais.
Entretanto, a crítica pós-colonial alerta que o cosmopolitismo, quando formulado a partir de padrões ocidentais, pode se tornar instrumento de exclusão e dominação. Para autores como Homi Bhabha (1998), é preciso um “cosmopolitismo vernacular”, que reconheça as vozes subalternas e os saberes locais. A verdadeira universalidade só pode emergir do diálogo entre diferenças, e não da imposição de uma racionalidade única.
Nesse ponto, a sociologia da moral e do reconhecimento, especialmente nas contribuições de Axel Honneth (2003), oferece um importante subsídio para repensar o universalismo. Para Honneth, a justiça social depende do reconhecimento mútuo, isto é, da capacidade dos sujeitos de se verem respeitados em sua dignidade, identidades e contribuições sociais. O reconhecimento é, portanto, condição para a construção de normas morais legítimas.
Essa perspectiva implica uma redefinição do universalismo: ao invés de um modelo fixo e hierárquico, propõe-se um universalismo processual, construído no entrelaçamento das experiências morais e sociais dos sujeitos. O reconhecimento das diferenças não anula a possibilidade de valores comuns, mas exige que esses valores sejam continuamente negociados e revalidados nas interações sociais.
Universalismo e sociedade: uma síntese crítica possível?
Ao longo deste texto, exploramos diferentes posições teóricas sobre a existência de princípios morais universais. De um lado, autores como Kant, Piaget, Kohlberg, Rest e Lourenço afirmam a existência de estruturas universais do julgamento moral, baseadas na autonomia da razão e na busca por justiça. Do outro, autores como Shweder, Gilligan e Bhabha enfatizam a pluralidade de valores culturais e a necessidade de respeitar as especificidades históricas dos contextos sociais.
Entre esses polos, emergem posições intermediárias, como as de Turiel, Nucci, Eckensberger e mesmo Angela Biaggio (1999), que defendem a existência de um núcleo moral compartilhado, sem ignorar os condicionantes culturais. Esses autores propõem uma abordagem dialógica e crítica, capaz de articular o respeito à diversidade com a defesa de princípios éticos fundamentais.
No campo das Ciências Sociais, esse debate se desdobra em discussões sobre multiculturalismo, direitos humanos, reconhecimento e justiça social. A contribuição da sociologia é, portanto, dupla: ela nos ajuda a entender como valores se constituem nas práticas sociais, e também como disputas simbólicas e materiais moldam a legitimidade desses valores. Como salienta Norbert Elias (1994), os padrões morais são sempre históricos, fluídos e processuais, ainda que mantenham certa coerência interna ao longo do tempo.
Nesse contexto, é possível propor uma síntese crítica que denomino universalismo reflexivo. Trata-se de uma postura que reconhece a necessidade de valores mínimos comuns — como o respeito à vida, à integridade física e psicológica, à liberdade e à igualdade — mas que submete esses valores a uma constante revisão crítica, à luz das experiências vividas e das vozes historicamente silenciadas.
Essa abordagem encontra respaldo em autores como Amartya Sen (2011), que propõe uma justiça comparativa, mais atenta às injustiças reais do que a modelos ideais de justiça. Para Sen, é possível avaliar moralmente práticas culturais sem cair no etnocentrismo, desde que o critério de julgamento seja a ampliação da liberdade e das capacidades humanas.
Considerações finais
O debate entre universalismo e relativismo continua a mobilizar reflexões complexas e essenciais no campo das Ciências Sociais. Longe de se tratar de uma dicotomia estanque, essa tensão revela as ambivalências e os desafios de pensar a moralidade em um mundo marcado pela diversidade cultural e pela interdependência global.
A partir da análise do artigo de Angela Biaggio (1999) e de autores correlatos, foi possível compreender que, apesar das variações culturais, há indícios de um núcleo moral compartilhado entre diferentes sociedades. Valores como justiça, lealdade, empatia e não violência parecem atravessar culturas, ainda que assumam formas distintas. Como defende Rest (1997), a moralidade é um processo em fluxo, moldado pelas interações sociais, mas ancorado em princípios que fazem sentido para a maioria das pessoas.
No campo da sociologia, o reconhecimento da diversidade cultural não deve levar à paralisia ética. Pelo contrário, deve incentivar a construção de uma moralidade crítica, dialógica e sensível às condições históricas de opressão e exclusão. O universalismo reflexivo, aqui defendido, busca equilibrar a necessidade de normas comuns com o respeito às diferenças, promovendo uma ética da escuta, da alteridade e da responsabilidade.
Em um mundo cada vez mais polarizado, retomar o debate sobre o universalismo é também um convite à construção de pontes entre sociedades, culturas e sujeitos. Afinal, como afirma Bauman (2001), é na interdependência que reside a possibilidade de uma ética global — não como imposição, mas como compromisso compartilhado com a dignidade de todos.
Referências bibliográficas
BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.
BIAGGIO, Angela Maria B. Universalismo versus relativismo no julgamento moral. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 12, n. 1, 1999.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
ECKENSBERGER, Lutz. The Development of Moral Judgment. In: DASEN, P.; SARASWATHI, T.S. Handbook of Cross-Cultural Psychology, Vol. 2. Boston: Allyn & Bacon, 1996.SOUSA SANTOS, Boaventura de. Crítica da razão indolente. São Paulo: Cortez, 2001.
HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. São Paulo: Editora 34, 2003
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Abril Cultural, 1980.
KOHLBERG, Lawrence. Essays on Moral Development, Vol. 2: The Psychology of Moral Development. San Francisco: Harper & Row, 1984.
LOURENÇO, Orlando. Reflections on Narrative Approaches to Moral Development. Human Development, v. 39, p. 83-99, 1996.
NUCCI, Larry. Conceptions of personal issues: A domain distinct from moral or societal concepts. Child Development, v. 52, p. 114-121, 1981.
NUSSBAUM, Martha. Capacidades e justiça social. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
PIAGET, Jean. O julgamento moral na criança. São Paulo: Summus, 1994.
REST, James et al. Development, Domains, and Culture in Moral Judgment: A neo-Kohlbergian approach. Universidade de Minnesota, 1997.
SEN, Amartya. A ideia de justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
SHWEDER, Richard. Culture and Moral Development. In: KAGAN, J.; LAMB, S. The Emergence of Morality in Young Children. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
TAYLOR, Charles. O multiculturalismo e a política do reconhecimento. São Paulo: UNESP, 1994.
TURIEL, Elliot. The development of social knowledge: Morality and Convention. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.


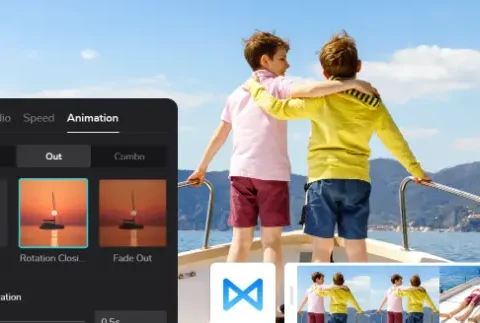









MEU COMENTAARIO E BOM PQ VC GOSTEI
VC E
Muito obrigado. Um excelente dia para você.