Temas polêmicos: Levantamos a sugestão de dez temas polêmicos para debater em sala de aula. As aulas tornam-se muito mais dinâmicas quando os alunos participam de maneira mais interativa e os temas tornam-se mais interessantes quando se relacionam a um momento de confronto prático de ideias. No entanto, é necessário que o professor seja muito cuidadoso na escolha e planejamento dos temas. Segue nossa sugestão de estrutura de plano de aula para abordar temas polêmicos.
Os temas polêmicos sempre estiveram no centro dos grandes debates que movem a história, transformam sociedades e desafiam certezas. No ambiente escolar, trabalhar temas polêmicos representa uma oportunidade ímpar para fomentar o pensamento crítico, estimular o diálogo respeitoso e promover o amadurecimento intelectual dos estudantes. Não por acaso, temas polêmicos ocupam lugar de destaque nas diretrizes curriculares das Ciências Humanas e Sociais, por serem capazes de mobilizar afetos, valores e argumentos de maneira integrada.
Discutir temas polêmicos em sala de aula não é simplesmente gerar confrontos de opinião, mas criar um espaço seguro e estruturado para que os alunos possam conhecer, analisar e questionar diferentes pontos de vista sobre questões atuais, controversas e complexas. Ao trabalhar com temas polêmicos como a pena de morte, o casamento homoafetivo, a descriminalização da maconha, o aborto ou a redução da maioridade penal, por exemplo, o professor contribui para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes e os prepara para o exercício da cidadania ativa.
Temas polêmicos exigem do educador um planejamento cuidadoso, uma mediação comprometida com a pluralidade e um domínio conceitual que permita abordar as diferentes dimensões — históricas, sociais, jurídicas, éticas e culturais — envolvidas em cada questão. São os temas polêmicos que possibilitam aos alunos experimentar o embate de ideias como um exercício de empatia, argumentação fundamentada e escuta sensível.
A escolha de temas polêmicos deve, portanto, estar alinhada aos objetivos formativos da educação básica, respeitando os princípios democráticos e os direitos humanos. Quando bem conduzidos, temas polêmicos deixam de ser focos de conflito e passam a ser instrumentos de transformação. Eles fazem emergir as contradições da realidade, convidam ao debate informado e impulsionam os jovens a pensar criticamente sobre o mundo em que vivem — e sobre o mundo que desejam construir.
Neste material, você encontrará uma proposta estruturada para abordar diferentes temas polêmicos com turmas do Ensino Médio. Cada tema está articulado a eixos das Ciências Sociais, com planos de aula orientados por objetivos claros, metodologias participativas e critérios de avaliação coerentes com a formação cidadã. Ao utilizar temas polêmicos como ferramenta pedagógica, abrimos espaço para um ensino mais vivo, engajado e socialmente relevante.
Público alvo:
Alunos do Ensino Médio
Duração das atividades:
04 horas aula para cada tema.
Objetivos gerais:
Conhecer as múltiplas dimensões de um problema e abordá-lo de forma crítica.
Materiais necessários:
– Cartolina
– Quadro
– Pincel
– Relógio ou cronometro
Metodologia:
1º Momento
O professor deve apresentar o tema de maneira preliminar, mostrando os principais argumentos contrários e favoráveis a uma ideia. É importante que o professor faça o papel de mediador e evite evidenciar suas preferências para não interferir no desenvolvimento crítico dos alunos. Neste momento, os alunos devem conhecer o tema de maneira preliminar de modo que na aula seguinte escolham qual ideia se afinar. Ressalte que os alunos devem se afinar com as ideias apenas depois que conhecer bem os dois principais posicionamentos.
O professor deve explanar os principais pontos de vista dos dois principais posicionamentos e distribuir referência de textos e vídeos para que os alunos se preparem. É ideal que o professor explique as principais falácias e cole um painel com as principais delas no quadro no dia do debate, no caso o 2º momento.
2º Momento
Após o professor ter distribuído as referências de temas é necessário estipular claramente as regras de debate e dizer, deixar claro que o principal objetivo da atividade é que todos aprendam a enxergar as múltiplas dimensões dos problemas, não exatamente defender um ponto de vista. O docente deve escrever no quadro as regras para evitar tumultos.
Regras:
1- O professor será o mediador do debate;
2- A sala será dividida em dois grupos de estudantes. De um lado os que são a favor da ideia, do outro os que são contra.
3- Ninguém deve sobrepujar a fala do outro, exceto o mediador. Alunos que não respeitarem essa regra terão sua nota reduzida.
4- Haverá duas rodadas. A primeira rodada de argumentos e a segunda rodada de perguntas. Os dois grupos, a favor e contra terão as mesmas quantidade de perguntas e argumentos.
5- Cada fala terá tempo máximo estipulado. Máximo de 3 minutos para o argumento, 2 minutos pare réplica e um minuto para tréplica.
6- A segunda rodada é a de perguntas. O professor vai sortear perguntas para o grupo “a favor” e contra. A pergunta terá resposta de 3 minutos, réplica de 2 minutos e tréplica de 1 minuto.
6- O grupo terá um porta voz que falará em nome do grupo “a favor”, “contra”. Esses dois representantes devem ser escolhidos pela turma.
7- A qualquer momento os alunos podem “mudar de lado” sem nenhum tipo de penalidade. Exceto os que aceitaram ser porta-vozes das duas ideias antagônicas.
Avaliação:
Faça uma avaliação levando em conta os argumentos dos dois lados e como esses argumentos encontram fundamentação teórica no assunto o qual está sendo abordado.
Temas polêmicos – Tema 1: Fim do Estado
Outro grande representante de temas polêmicos é a extinção do Estado. A possibilidade do fim do Estado como estrutura organizacional da sociedade humana tem sido, ao longo dos séculos, tema de acirrados debates teóricos e políticos. Esse tema, que ressurge em momentos de crise civilizacional, se insere entre os mais controversos no campo das ciências sociais. A ideia de um mundo pós-Estado é inquietante não apenas porque desafia os modelos clássicos de organização social, mas também porque coloca em xeque o papel da política, da soberania e da autoridade nas relações humanas.
A discussão em torno do fim do Estado ganha força quando articulada a transformações profundas no capitalismo, às crises de representatividade política, à emergência de novas tecnologias de controle social e ao avanço do neoliberalismo. Para analisar essa temática, é imprescindível recorrer à tradição sociológica e às teorias críticas que problematizam a função do Estado, sua gênese, seu papel nos modos de produção e as contradições que o atravessam.
Assim, este texto tem como foco explorar os principais argumentos e paradigmas teóricos que abordam o fim do Estado, suas possíveis formas de superação ou dissolução, os dilemas contemporâneos da soberania, e os desdobramentos sociais, econômicos e políticos que esse fenômeno suscita.
1. O Estado como construção histórica
A noção de Estado é uma invenção histórica que não pode ser compreendida como um dado natural. Segundo Norberto Bobbio (2000), o Estado moderno é resultado de um longo processo de transformação das estruturas de poder, passando da autoridade religiosa para a política secular, particularmente após o surgimento das monarquias absolutistas e a consolidação da soberania estatal com a Paz de Westfália (1648). O Estado, assim, emerge como um aparato de centralização do poder, monopólio legítimo da violência (como aponta Weber, 1999) e regulação das relações sociais.
Do ponto de vista marxista, o Estado é uma instância que representa os interesses da classe dominante. Para Marx e Engels (2007), trata-se de um instrumento de dominação de classe que surge com a cisão da sociedade em classes antagônicas. Em “O Manifesto Comunista”, os autores afirmam que o Estado moderno é “um comitê para gerir os negócios comuns de toda a burguesia”. Portanto, sua existência está ligada diretamente à manutenção das condições materiais de exploração, sendo historicamente transitório.
Já para Durkheim (2011), embora o Estado tenha uma função coesiva na sociedade moderna, sua legitimidade decorre do consenso coletivo e da necessidade de mediação das múltiplas especializações sociais. O Estado surge como reflexo da divisão do trabalho e da interdependência funcional entre os indivíduos.
Portanto, a compreensão do Estado varia conforme a matriz teórica adotada. Enquanto para os funcionalistas ele representa estabilidade e ordem, para os críticos ele simboliza dominação e repressão.
Temas polêmicos – Tema 2: Intervenção do Estado na Economia
Outro grande representante de temas polêmicos é a intervenção do Estado na Economia. Ao longo da história do pensamento social, poucos temas geraram tantas controvérsias quanto a intervenção do Estado na economia. Esta discussão remonta às origens da economia política e permanece central nas disputas contemporâneas entre diferentes modelos de organização social. Inserido entre os temas polêmicos mais relevantes da sociologia econômica, o papel do Estado como agente regulador, provedor e planejador divide teóricos, políticos e cidadãos comuns. De um lado, há os que defendem a presença ativa do Estado como garantidora de justiça social e equilíbrio de mercado; de outro, os que advogam por um Estado mínimo, limitando-se à proteção da propriedade e da ordem.
Essa tensão teórica e prática está enraizada em disputas ideológicas e interesses de classe, exigindo uma abordagem crítica e historicamente situada. Neste texto, será feita uma análise sociológica detalhada da intervenção estatal na economia, explorando suas origens, os modelos teóricos que a sustentam ou criticam, os efeitos sociais de sua presença (ou ausência), e os desafios contemporâneos em torno dessa questão. Ao final, busca-se oferecer uma compreensão ampla e fundamentada sobre por que a intervenção do Estado na economia continua sendo um dos focos centrais das disputas sociais e políticas em todo o mundo.
1. Origem e desenvolvimento do Estado interventor
A presença do Estado na economia não é uma invenção moderna, mas assume características distintas ao longo dos tempos. No contexto das sociedades absolutistas, o mercantilismo já expressava uma forma intensa de intervenção estatal voltada à acumulação de riquezas pelas monarquias. Segundo Hobsbawm (1995), esse modelo visava fortalecer o poder nacional e garantir a expansão colonial, baseando-se no protecionismo, na regulamentação do comércio exterior e na aliança entre Estado e burguesia mercantil.
No entanto, é a partir da Revolução Industrial que a questão da intervenção assume um novo patamar. O liberalismo clássico, representado por autores como Adam Smith, defendia que o Estado deveria ser limitado às funções de defesa, justiça e garantia da ordem, deixando o mercado operar livremente por meio da “mão invisível” (Smith, 1983). Esse modelo liberal passou a ser dominante no século XIX, especialmente nos países centrais do capitalismo.
Contudo, as crises cíclicas do capitalismo, a miséria urbana crescente e as lutas operárias demonstraram as insuficiências do modelo liberal. Em resposta, o século XX testemunhou o avanço de uma nova forma de organização econômica: o Estado de Bem-Estar Social (welfare state). Como assinala Polanyi (2000), o liberalismo gerou uma “grande transformação”, que exigiu contramovimentos sociais e políticos para conter seus efeitos destrutivos sobre a vida humana e a coesão social. Assim, a intervenção estatal passou a ser entendida não apenas como desejável, mas como necessária à sobrevivência da própria ordem social.
2. As principais teorias sobre a intervenção do Estado
O debate sobre a intervenção do Estado na economia pode ser analisado a partir de diferentes tradições teóricas. A sociologia, enquanto ciência da sociedade, contribui significativamente para esse debate, articulando as dimensões econômicas aos aspectos políticos, culturais e históricos da ação estatal.
Liberalismo clássico e neoliberalismo
Para os liberais clássicos, como John Locke e Adam Smith, o papel do Estado deveria ser mínimo. O mercado, segundo essa visão, é o espaço natural de autorregulação da economia. Já no século XX, o neoliberalismo — difundido especialmente a partir das experiências de Margaret Thatcher e Ronald Reagan — recupera esse ideal de “Estado mínimo”, com forte ênfase na desregulamentação, privatizações e abertura de mercados (Dardot; Laval, 2016). Essa visão sustenta que a intervenção estatal distorce os preços, reduz a eficiência econômica e compromete a liberdade individual.
Keynesianismo
Contrapondo-se a essa lógica, John Maynard Keynes propôs, durante a Grande Depressão dos anos 1930, um modelo baseado na atuação ativa do Estado como indutor da demanda agregada. Para Keynes (1985), o mercado não é autorregulável em tempos de crise e, portanto, o Estado precisa intervir para estabilizar a economia e garantir o pleno emprego. Esse modelo sustentou, durante décadas, políticas de investimentos públicos, controle monetário e ampliação dos direitos sociais, sendo fundamental na construção do Estado de Bem-Estar Social europeu e norte-americano.
Marxismo
Do ponto de vista marxista, o Estado é uma estrutura de dominação de classe, que atua para garantir a reprodução do capital. Segundo Marx e Engels (2007), a intervenção estatal é sempre funcional aos interesses da burguesia, ainda que eventualmente adote políticas sociais para conter revoltas ou crises. A economia planificada proposta pelo socialismo soviético é uma alternativa à lógica de mercado, baseada no controle coletivo dos meios de produção. No entanto, as experiências históricas de estatização total da economia geraram debates sobre burocratização, autoritarismo e eficiência.
Sociologia crítica contemporânea
Autores como Pierre Bourdieu (1998) apontam para uma nova forma de intervenção estatal que, sob o discurso neoliberal, continua fortemente presente, mas deslocada para garantir as condições de reprodução do mercado, especialmente por meio da repressão aos pobres e da formação de uma “mão de obra dócil”. Trata-se de uma intervenção seletiva, que prioriza os interesses do capital em detrimento dos direitos sociais.
Temas polêmicos – Tema 3: Pena de morte para crimes
Outro grande representante de temas polêmicos é a pena de morte. A pena de morte é uma das sanções mais controversas da história da humanidade. Associada a valores culturais, jurídicos e ético-morais diversos, sua aplicação sempre dividiu sociedades, governos e pensadores. No campo das ciências sociais, a pena capital representa um fenômeno multifacetado, cujas raízes estão profundamente ligadas às estruturas de poder, à organização da justiça e à construção simbólica da punição. Analisar esse tema exige um olhar crítico, capaz de atravessar discursos morais e jurídicos para alcançar os sentidos sociais que a sustentam ou rejeitam.
No Brasil, a Constituição de 1988 proíbe a pena de morte, excetuando casos de guerra declarada. Mesmo assim, esse tema reaparece com frequência no debate público, principalmente em contextos de crise na segurança pública ou de crimes de grande repercussão. Nesse sentido, discutir a pena de morte como política penal exige compreender suas implicações sociológicas e suas relações com o Estado, a desigualdade e os direitos humanos.
A origem sociológica da pena de morte
A punição, segundo Durkheim (1999), sempre cumpriu um papel de reforço da solidariedade social. Em sociedades de solidariedade mecânica, baseadas na semelhança entre os indivíduos, a punição tende a ser severa e exemplar, servindo como meio de reafirmação da coesão moral do grupo. A pena de morte, nesse contexto, aparece como forma de vingança coletiva institucionalizada.
Já Foucault (1987), ao analisar os dispositivos de poder nas sociedades modernas, evidencia a transição do suplício público para formas de punição mais discretas e eficientes. A morte como espetáculo foi, segundo ele, substituída por métodos de controle mais eficazes, como o encarceramento e a vigilância. No entanto, em sociedades marcadas por altos níveis de violência e desigualdade, como o Brasil, a demanda por punições exemplares retorna com força, revelando uma permanência simbólica da lógica do suplício.
É nesse entrelaçamento entre punição e poder que a pena de morte adquire seus contornos sociais. Não se trata apenas de eliminar um infrator, mas de reafirmar uma ordem que se apresenta como ameaçada. A questão central é: quem decide quem deve morrer? Em sociedades profundamente desiguais, essa decisão tende a reproduzir as estruturas de exclusão e seletividade penal.
A seletividade do sistema penal e o risco de injustiça
O sociólogo brasileiro Nilo Batista (2011) argumenta que o sistema penal não atinge todos da mesma forma: ele é seletivo. Essa seletividade é observada no perfil das pessoas presas e condenadas no Brasil: em sua maioria, jovens, negros, pobres e moradores das periferias urbanas. A aplicação da pena de morte em contextos como esse tende a reforçar desigualdades estruturais, aprofundando injustiças históricas.
Para Zaffaroni (2001), a pena de morte é incompatível com o princípio da dignidade humana. O jurista argentino aponta que o Estado não pode assumir para si o direito de matar seus cidadãos, sob pena de abandonar os princípios democráticos que o fundamentam. Em sociedades marcadas por discriminações raciais, econômicas e sociais, a pena de morte não é apenas ineficaz, mas também perigosa, pois transforma a justiça em instrumento de extermínio.
Estudos empíricos realizados em países que ainda adotam a pena capital, como os Estados Unidos, mostram que os erros judiciais são frequentes. Casos emblemáticos de pessoas inocentes executadas colocam em xeque a legitimidade desse tipo de punição. O risco de irreversibilidade do erro, nesse caso, é inaceitável.
A pena de morte e o discurso de segurança
Frequentemente, a pena de morte é defendida sob o argumento de que ela funciona como instrumento de dissuasão da criminalidade. Esse discurso se fortalece em contextos de crise da segurança pública e alimenta o desejo coletivo de vingança. No entanto, pesquisas mostram que não há correlação direta entre a existência da pena capital e a redução de crimes violentos (SANTOS, 2012).
O sentimento de insegurança, segundo Bauman (2008), está relacionado à fragilidade dos vínculos sociais e à incerteza quanto ao futuro. A pena de morte surge, nesse cenário, como promessa de controle e alívio simbólico. Contudo, ela não enfrenta as causas estruturais da violência, como a desigualdade, o racismo institucional, o desemprego e a falência das políticas sociais.
Nesse sentido, Loïc Wacquant (2001) alerta para a expansão do “Estado penal” em substituição ao Estado social. Em vez de políticas de inclusão, recorre-se ao endurecimento das leis e à militarização do controle urbano. A pena de morte, nesse contexto, não é uma resposta racional à criminalidade, mas um símbolo do abandono da política social em favor do castigo.
Temas polêmicos – Tema 4: Armamento civil
Outro grande representante de temas polêmicos é o armamento civil. O debate sobre o porte civil de armas de fogo é um dos temas mais polêmicos do cenário político e social contemporâneo. Entre argumentos que evocam o direito à legítima defesa e críticas que apontam os riscos de armamento da população civil, a questão divide opiniões e desafia os fundamentos democráticos. No campo das ciências sociais, o porte de armas não é apenas uma escolha individual ou uma política pública isolada: trata-se de um fenômeno que dialoga com a construção do Estado, o monopólio da violência legítima, a desigualdade social e a cultura da violência.
No Brasil, esse debate tem se intensificado desde os anos 2000, especialmente com o Estatuto do Desarmamento (Lei n.º 10.826/2003), que restringiu a posse e o porte de armas. As tentativas de flexibilização dessa legislação, principalmente a partir de 2019, reacenderam controvérsias sobre os efeitos sociais do armamento civil, levando à necessidade de análise crítica sob uma perspectiva sociológica, histórica e normativa.
Armas e o monopólio da violência legítima
O sociólogo alemão Max Weber (1994) define o Estado moderno como aquela instituição que detém, com legitimidade, o monopólio do uso da força dentro de um território. Esse conceito é central para compreender por que o porte civil de armas é um tema sensível: a ampliação do acesso a armamentos por civis pode representar uma fragmentação desse monopólio, afetando a autoridade estatal e a ordem pública.
Weber não nega a presença de violência em outras instituições, mas destaca que o uso legítimo da força é prerrogativa do Estado, desde que regulado por normas jurídicas. Nesse sentido, o armamento civil deve ser visto como uma exceção, condicionada por interesses públicos, não como um direito irrestrito baseado na lógica do individualismo.
A proliferação de armas entre a população civil pode contribuir para o enfraquecimento da confiança institucional e para o crescimento de práticas de justiça privada. A naturalização do armamento como mecanismo de resolução de conflitos evidencia o risco de retrocesso à lógica pré-moderna da vingança pessoal, algo já criticado por Norbert Elias (1993) ao descrever o processo civilizador que delega ao Estado a tarefa de mediar conflitos.
O discurso da legítima defesa: segurança ou ilusão?
Defensores do porte de armas frequentemente apelam ao princípio da legítima defesa. O argumento central é que o cidadão desarmado está em desvantagem diante de criminosos armados. No entanto, estudos internacionais e nacionais indicam que o aumento de armas em circulação não está necessariamente associado à redução da criminalidade — muitas vezes ocorre o oposto (CERQUEIRA; LOBÃO, 2004).
Segundo dados do Instituto Sou da Paz (2022), estados brasileiros com maiores índices de armas registradas apresentaram também aumentos nas taxas de violência letal. Isso evidencia o que diversos sociólogos denominam como “paradoxo da segurança”: ao tentar garantir proteção por meios privados e armados, gera-se maior insegurança coletiva.
Além disso, como destaca Bauman (2008), vivemos em uma sociedade marcada pelo medo, no qual as respostas individuais à insegurança tendem a reforçar os próprios mecanismos que produzem o medo. O armamento civil, ao invés de mitigar os riscos, pode intensificar tensões sociais, promover escaladas de violência interpessoal e agravar conflitos cotidianos.
A cultura da violência e a lógica neoliberal
O debate sobre armas também deve ser compreendido no contexto mais amplo da cultura da violência e da hegemonia do discurso neoliberal. Para Wacquant (2001), o avanço de políticas punitivistas nos países periféricos está ligado à retração do Estado social e à ascensão do Estado penal. O armamento da população é, nesse caso, uma forma de transferir ao indivíduo a responsabilidade pela sua própria proteção, como se a segurança fosse uma questão de competência pessoal, e não uma função pública.
Essa lógica reforça desigualdades estruturais. No Brasil, onde o acesso ao armamento legal é condicionado por custos elevados e trâmites burocráticos, o direito à legítima defesa se transforma em privilégio de classe. Para as camadas populares, a “defesa” é muitas vezes criminalizada, alimentando a seletividade penal já denunciada por autores como Nilo Batista (2011).
A cultura do medo, somada à naturalização da violência como forma de resolver conflitos, favorece o avanço de políticas que substituem a educação e a prevenção por repressão e controle. O discurso em favor do armamento ignora os efeitos colaterais sobre a infância, a convivência comunitária e o cotidiano urbano.
Temas polêmicos – Tema 5: Ampliação da matriz energética nuclear
Outro grande representante de temas polêmicos diz respeito à energia nuclear. A ampliação da matriz energética nuclear é uma das temáticas mais controversas do debate ambiental, político e científico contemporâneo. Em tempos de crise climática, crescimento populacional e aumento da demanda por energia, ressurgem com força os argumentos favoráveis ao uso da energia atômica como alternativa limpa e eficiente. Contudo, a questão não se esgota em parâmetros técnicos ou econômicos. Para as ciências sociais, trata-se de um tema carregado de significados ideológicos, relações de poder e disputas sobre o controle dos recursos e riscos.
O Brasil, que já conta com duas usinas nucleares em operação (Angra 1 e 2) e projeta a conclusão de Angra 3, vive um dilema: seguir investindo em fontes renováveis como a solar e a eólica, ou reforçar sua infraestrutura atômica? A resposta não é simples e exige análise que ultrapasse o discurso técnico, integrando aspectos políticos, sociais, ambientais e simbólicos. Nesse sentido, este texto busca problematizar a ampliação da matriz energética nuclear no Brasil à luz da sociologia crítica e da teoria social contemporânea.
A energia nuclear como promessa de desenvolvimento
A narrativa da energia nuclear como símbolo de progresso acompanha a modernidade desde o século XX. Inicialmente associada à destruição provocada pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki, a energia atômica foi rapidamente ressignificada como fonte de desenvolvimento e soberania. Para Beck (2011), essa ambivalência da modernidade é típica do que ele chama de “sociedade de risco”, na qual os avanços tecnológicos trazem consigo novos tipos de ameaças.
No Brasil, a adoção da energia nuclear foi associada a projetos de autonomia estratégica e industrialização, especialmente durante os regimes autoritários do século passado. As primeiras usinas foram construídas sob forte influência geopolítica, em especial durante a ditadura civil-militar (1964–1985), sem ampla participação social ou debate democrático. Esse histórico de opacidade institucional ainda marca a percepção pública sobre o tema.
Mais recentemente, o discurso da sustentabilidade tem sido usado como justificativa para a expansão do setor. Argumenta-se que, diferentemente dos combustíveis fósseis, a energia nuclear não emite dióxido de carbono (CO₂) durante sua operação. No entanto, como apontam diversos estudos (PORTO, 2013), a análise ambiental não pode se restringir à emissão de gases, devendo incluir os riscos de acidentes, o armazenamento de rejeitos radioativos e os impactos sociais sobre as comunidades envolvidas.
Riscos, acidentes e a “normalização do perigo”
A energia nuclear está profundamente vinculada à produção de riscos invisíveis, incalculáveis e de longo prazo. Ulrich Beck (2011) caracteriza esse tipo de risco como “manufacturado” e não mais como consequência da natureza, mas sim das ações humanas. Acidentes como os de Chernobyl (1986) e Fukushima (2011) tornaram evidente a vulnerabilidade dos sistemas nucleares mesmo em países altamente desenvolvidos e tecnologicamente avançados.
No Brasil, embora não se tenha registrado acidentes graves, há falhas recorrentes de manutenção e denúncias sobre a fragilidade da segurança das usinas (GREENPEACE, 2014). A combinação entre infraestrutura envelhecida, falta de fiscalização efetiva e baixa transparência institucional gera desconfiança pública. A gestão dos rejeitos nucleares é outro ponto crítico: o material radioativo permanece perigoso por milhares de anos e ainda não há solução definitiva para seu armazenamento.
A “normalização do perigo”, conceito desenvolvido por Charles Perrow (1999), ajuda a compreender como sistemas complexos — como usinas nucleares — podem falhar não por exceções, mas por características intrínsecas de sua operação. A ampliação desse tipo de matriz exige, portanto, não apenas investimento técnico, mas análise crítica sobre seus efeitos sociais e ambientais em longo prazo.
Temas polêmicos – Tema 6: Casamento homoafetivo
Outro grande representante de temas polêmicos, que serquer deveria haver polêmica é o casamento homoafetivo é um dos temas mais sensíveis e polarizadores do debate público nas sociedades contemporâneas. Trata-se de um direito fundamental que traz dignidade a tal grupo. No Brasil, embora tenha sido juridicamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2011 e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2013, sua aceitação social ainda enfrenta resistências. A luta por direitos civis e a efetivação da cidadania plena para pessoas LGBTQIA+ ainda encontra obstáculos simbólicos, culturais e institucionais profundamente enraizados na estrutura social.
Sob a ótica das ciências sociais, a análise do casamento homoafetivo exige a compreensão das relações entre sexualidade, normatividade, poder e direitos. Trata-se de uma disputa que vai além do campo jurídico e penetra em esferas como a moral religiosa, a construção da família, a definição de cidadania e os dispositivos de exclusão e controle social. Este texto busca refletir sobre o casamento homoafetivo enquanto conquista histórica e campo de tensão, iluminando as dinâmicas sociais que sustentam ou resistem a sua consolidação.
O casamento como construção social
A concepção de casamento não é universal nem estática. Como destacam Berger e Luckmann (2004), as instituições sociais são construções históricas que se naturalizam ao longo do tempo, fazendo parecer “naturais” formas que são, na verdade, socialmente produzidas. O casamento, nesse sentido, reflete valores dominantes de uma determinada época e cultura. Durante séculos, a união entre um homem e uma mulher, com fins reprodutivos, foi tomada como padrão hegemônico — mas não como única possibilidade.
A noção de família tradicional é produto de uma estrutura patriarcal, cuja função primordial era a reprodução de heranças, linhagens e papéis de gênero. Para Foucault (1988), as instituições, como a família e o casamento, operam como dispositivos de poder que normatizam os corpos e regulam as condutas. A homossexualidade, historicamente marginalizada, foi excluída dessa estrutura por não corresponder às exigências reprodutivas e normativas da moral burguesa moderna.
A inserção do casamento homoafetivo no ordenamento jurídico brasileiro não rompe com a ideia de casamento, mas a amplia, ao reconhecer que o afeto e a dignidade são fundamentos legítimos da constituição familiar. Tal reconhecimento representa um avanço civilizatório na luta por igualdade, mas também revela as tensões sociais que ainda cercam o tema.
Direitos civis e cidadania sexual
A luta pelo casamento homoafetivo está inserida no contexto mais amplo da busca por direitos civis e pela consolidação da cidadania sexual. Para Bourdieu (1996), os direitos são também formas de capital simbólico, cuja posse ou ausência define a posição dos sujeitos na estrutura social. Negar o direito ao casamento a casais homoafetivos significa negar reconhecimento, visibilidade e legitimidade pública à sua existência.
No Brasil, a jurisprudência avançou mesmo diante de um cenário político e cultural adverso. A decisão do STF em 2011, ao equiparar a união estável entre pessoas do mesmo sexo às uniões heterossexuais, e a Resolução nº 175 do CNJ em 2013, que proíbe os cartórios de recusarem celebrações de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, representaram marcos importantes. Contudo, a efetivação desses direitos ainda é desigual e enfrenta resistências em diversas regiões do país.
Richard Miskolci (2009) aponta que vivemos uma “modernidade sexual” marcada por novas formas de visibilidade, mas também por novos mecanismos de regulação. O reconhecimento do casamento homoafetivo coexiste com discursos de ódio, exclusão simbólica e tentativas de regressão normativa. A cidadania sexual, portanto, não é apenas uma questão legal, mas política e cultural.
O discurso religioso e a moralização da política
Um dos principais focos de resistência ao casamento homoafetivo vem de setores religiosos conservadores que têm ampliado sua influência na política institucional. Como destaca Pierucci (2004), o Brasil vive um processo de “reencantamento do mundo” na esfera pública, com crescente interferência de valores religiosos em decisões políticas. O casamento homoafetivo, nesse cenário, é transformado em campo de disputa entre a laicidade do Estado e a moral religiosa.
A tentativa de transformar concepções religiosas particulares em normas universais fere o princípio republicano da laicidade e ameaça a pluralidade democrática. Como afirma Roberto DaMatta (1997), o “nós” brasileiro é plural por essência, e tentar impor uma moral única à diversidade social é negar a própria natureza da convivência democrática.
A resistência religiosa ao casamento homoafetivo revela não apenas uma disputa sobre normas, mas uma tentativa de controle dos corpos, da sexualidade e dos afetos. Nesse contexto, é papel das ciências sociais iluminar as relações entre fé, poder e política, denunciando os mecanismos que operam para restringir direitos em nome da tradição ou da moral.
Temas polêmicos – Tema 7: Descriminalização do Aborto
Outro grande representante de temas polêmicos é descriminalização do aborto, tema . A descriminalização do aborto é um dos temas polêmicos mais delicados e controversos no debate público contemporâneo. Presente em disputas jurídicas, religiosas, políticas e morais, o aborto mobiliza emoções e convicções profundas, refletindo clivagens estruturais nas sociedades modernas. O embate entre direitos individuais, normas religiosas, valores culturais e princípios legais evidencia que essa não é apenas uma questão de saúde pública, mas também de justiça social e igualdade de gênero.
Para as ciências sociais, o aborto deve ser compreendido no contexto mais amplo das relações de poder, da construção da cidadania e da autonomia dos corpos. Em sociedades marcadas por desigualdades estruturais, como o Brasil, a criminalização do aborto atinge de forma desigual as mulheres — sobretudo as pobres, negras e periféricas — reforçando lógicas históricas de exclusão.
Este texto propõe uma análise sociológica da descriminalização do aborto, abordando seus impactos sociais, seus atravessamentos com a moral religiosa e as disputas simbólicas em torno do corpo feminino e dos direitos sexuais e reprodutivos.
Aborto como questão social: além da moral
Ao longo da história, o aborto foi tratado ora como pecado, ora como crime, ora como problema de saúde pública. No entanto, sob uma perspectiva sociológica, o aborto é, antes de tudo, uma questão social. Como explicam Berger e Luckmann (2004), os significados sociais são construídos e naturalizados, e o entendimento do aborto como algo moralmente errado resulta de um processo histórico-cultural que varia entre as sociedades e períodos.
Em diversos países, o aborto foi descriminalizado ou legalizado com base em critérios de saúde, equidade e direitos humanos. A Organização Mundial da Saúde reconhece que a proibição do aborto não impede sua prática, mas a torna mais perigosa, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade. No Brasil, estima-se que centenas de milhares de abortos clandestinos ocorram todos os anos, muitos deles com riscos à vida (DREYER, 2016).
A criminalização, portanto, não impede a prática, mas determina quem pode fazê-la de forma segura e quem está exposta à violência institucional, ao sofrimento físico e à punição moral. Trata-se, portanto, de uma questão de desigualdade social e de seletividade do sistema penal, como também denuncia Nilo Batista (2011).
Direitos sexuais, autonomia corporal e cidadania
A descriminalização do aborto insere-se no campo mais amplo dos direitos sexuais e reprodutivos, compreendidos como parte integrante da cidadania plena. Para Butler (2003), a luta feminista pelo controle do corpo é uma forma de resistência contra as normatividades impostas pela cultura patriarcal. A proibição do aborto representa a negação da autonomia da mulher sobre seu próprio corpo, perpetuando a ideia de que a maternidade é uma obrigação e não uma escolha.
No Brasil, a legislação atual permite o aborto em apenas três casos: risco de vida para a gestante, gravidez resultante de estupro e anencefalia fetal. Fora dessas hipóteses, a prática é criminalizada, mesmo quando motivada por condições sociais extremas ou traumas psíquicos. Essa limitação jurídica impõe sofrimento às mulheres e fortalece o poder disciplinador do Estado sobre os corpos femininos.
A autonomia corporal é uma dimensão fundamental da liberdade. Sem ela, não há igualdade de gênero nem democracia substantiva. Como afirma Gohn (2019), a cidadania é um campo de disputa, e os direitos das mulheres são constantemente tensionados por forças conservadoras que buscam reafirmar padrões tradicionais de comportamento e moralidade.
Religião, política e moral pública
Um dos principais entraves à descriminalização do aborto no Brasil é a influência de grupos religiosos na formulação de políticas públicas. Embora o Estado brasileiro seja, constitucionalmente, laico, há uma crescente interferência de princípios morais religiosos nas decisões legislativas, como evidenciado nas pautas de costumes em tramitação no Congresso Nacional.
Para Pierucci (2004), vivemos um processo de “reencantamento religioso” da esfera pública, no qual dogmas são transformados em argumentos legislativos. Isso gera uma confusão entre fé e razão pública, comprometendo os princípios republicanos da laicidade e da pluralidade. O aborto, nesse cenário, é tratado mais como tabu moral do que como problema de saúde pública e justiça social.
A moral religiosa, quando imposta como norma universal, silencia as múltiplas vozes da sociedade e impede o debate racional e científico. Como destaca Habermas (2007), uma democracia saudável exige a separação entre os argumentos religiosos e os critérios normativos de justiça compartilhada por todos os cidadãos, independentemente de suas crenças.
Temas polêmicos – Tema 8: Descriminalização da maconha
Outro grande representante de temas polêmicos é descriminalização do consumo de drogas. A descriminalização da maconha é uma pauta que mobiliza debates intensos no campo jurídico, político e social. Entre argumentos que associam a liberação ao aumento da criminalidade e defensores que enxergam na medida uma forma de reduzir a violência e o encarceramento em massa, a questão permanece polêmica e profundamente atravessada por desigualdades históricas. Mais do que um debate sobre substâncias psicoativas, trata-se de um espelho das contradições estruturais da sociedade brasileira, especialmente no que se refere ao racismo institucional, à seletividade penal e à construção das políticas públicas.
Para as ciências sociais, pensar a descriminalização da maconha envolve examinar os significados atribuídos ao uso da droga, a construção social da criminalidade, o papel da mídia na produção de estigmas e os efeitos da política de drogas sobre populações vulnerabilizadas. O tema está no centro da discussão sobre justiça social, saúde pública, autonomia individual e reforma do sistema penal.
A construção social da criminalização
A criminalização da maconha no Brasil e no mundo não é fruto de uma constatação científica sobre os perigos da substância, mas de um processo histórico e político profundamente marcado por interesses econômicos, raciais e coloniais. Como mostra Foucault (1987), o poder disciplinar atua sobre os corpos e os saberes, definindo o que é “normal” e o que é “desviante”. Nesse contexto, a maconha foi associada, desde o século XX, a populações marginalizadas e racializadas.
Segundo Ramos (2015), a proibição da maconha no Brasil remonta ao início do século passado, quando seu uso era vinculado aos negros e pobres, sendo vista como ameaça à ordem e à moralidade. Essa associação perdura até hoje, com impacto direto na seletividade do sistema penal. O mesmo porte de substância que passa despercebido em bairros ricos pode gerar prisão e violência policial em favelas e periferias.
A ideia de droga como “mal social” é uma construção ideológica, como aponta Becker (2008), ao analisar os “outsiders”. O que define uma droga como ilegal não é seu potencial danoso, mas a forma como ela é percebida socialmente. Assim, substâncias como álcool e tabaco — amplamente aceitas — causam mais mortes e dependência do que a maconha, mas permanecem legalizadas.
Sistema penal, seletividade e racismo estrutural
A política de guerra às drogas no Brasil produziu efeitos devastadores. Em vez de reduzir o consumo ou o tráfico, resultou em encarceramento em massa, aumento da violência e fortalecimento de facções criminosas. A Lei de Drogas (n.º 11.343/2006), embora tenha distinguido usuário de traficante, deixou brechas que permitem interpretações subjetivas, muitas vezes marcadas por estigmas raciais e sociais.
Para Wacquant (2001), o Estado penal contemporâneo é seletivo e se volta contra os pobres, negros e periféricos. O Brasil exemplifica essa lógica: segundo dados do CNJ (2022), mais de um terço dos presos no país estão ligados a crimes relacionados à Lei de Drogas. A maioria é jovem, negro e com baixa escolaridade — pessoas para as quais o encarceramento se torna mecanismo de exclusão e controle social.
Descriminalizar a maconha, nesse contexto, não é apenas uma medida liberalizante, mas um passo na direção de uma justiça menos punitiva e mais igualitária. Como afirma Batista (2011), o sistema penal não pode ser usado como ferramenta de higienização social, punindo comportamentos que poderiam ser tratados com políticas de saúde, educação e assistência.
Maconha, saúde pública e redução de danos
O paradigma da saúde pública tem ganhado espaço nos debates sobre drogas. Em vez de tratar o usuário como criminoso, propõe-se vê-lo como sujeito de direitos, que pode precisar de apoio e cuidado, não de punição. A política de redução de danos, adotada em vários países e defendida pela Organização Mundial da Saúde, reconhece o uso de substâncias como parte da vida social e propõe estratégias para reduzir seus efeitos negativos.
A maconha, nesse cenário, aparece como uma substância com potenciais terapêuticos já reconhecidos — especialmente para casos de epilepsia, esclerose múltipla, dor crônica e náuseas em tratamentos de câncer (ANVISA, 2019). A criminalização, além de barrar o acesso à pesquisa e ao uso medicinal, impede o desenvolvimento de políticas baseadas em evidências científicas.
Como observa Boiteux (2013), a proibição não só fracassa na contenção do consumo, como gera consequências mais danosas que o uso em si: violência, corrupção policial, estigmatização e desigualdade. A descriminalização, portanto, deve ser compreendida como parte de uma política racional e humanizada, que reconheça os limites do punitivismo e aposte em alternativas baseadas em direitos humanos.
Temas polêmicos – Tema 9: Redução da maioridade penal
Outro grande representante de temas polêmicos é a redução da maioridade penal. A proposta de redução da maioridade penal no Brasil, especialmente de 18 para 16 anos, é tema recorrente em pautas legislativas, debates eleitorais e discursos midiáticos. Movida por episódios de violência envolvendo adolescentes, essa proposta costuma ganhar força em momentos de comoção pública, sendo defendida por parte da sociedade como resposta à criminalidade. No entanto, por trás do aparente consenso popular, esconde-se uma série de contradições legais, sociais e morais que desafiam o compromisso com os direitos humanos e a justiça social.
Para as ciências sociais, a redução da maioridade penal não deve ser analisada apenas sob a ótica da punição, mas como reflexo das estruturas sociais, das desigualdades históricas e do modo como o Estado lida com a juventude pobre e periférica. Este texto propõe uma análise crítica da proposta, evidenciando seus limites, contradições e consequências sociais.
Juventude, criminalidade e seletividade penal
A juventude, sobretudo a negra e periférica, é frequentemente associada à criminalidade. Essa associação, entretanto, não se sustenta nos dados. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2022), menos de 1% dos crimes violentos no país são cometidos por adolescentes. Mesmo assim, o imaginário social continua a demonizar a juventude pobre, como parte de um processo de construção do “inimigo interno”, conforme discutido por Loïc Wacquant (2001).
Essa criminalização da juventude revela o caráter seletivo do sistema penal. Como destaca Nilo Batista (2011), a aplicação das leis penais no Brasil tende a recair desproporcionalmente sobre os pobres e os negros. Reduzir a maioridade penal, nesse contexto, não significa tornar o sistema mais justo, mas aprofundar um modelo já excludente, punitivista e desigual.
A ideia de que a punição mais severa terá efeito dissuasório também é refutada pela literatura especializada. Becker (2008), ao tratar da construção social da desviança, demonstra que o estigma criminal tende a reforçar trajetórias marginais, não a interrompê-las. Ou seja, prender adolescentes não os reeduca; ao contrário, muitas vezes os insere definitivamente no ciclo da violência institucional.
O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Doutrina da Proteção Integral
A Constituição Federal de 1988 consagrou o princípio da proteção integral às crianças e adolescentes, posteriormente regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990. Essa legislação rompeu com a antiga doutrina da situação irregular, que tratava o menor infrator como um quase delinquente, e passou a reconhecê-lo como sujeito de direitos, em condição peculiar de desenvolvimento.
A proposta de redução da maioridade penal vai na contramão desse paradigma. Ao invés de fortalecer políticas públicas de educação, cultura e inclusão social, aposta-se na lógica punitiva e na antecipação da responsabilização criminal. Como adverte Gohn (2019), a juventude brasileira sofre com a ausência de políticas de Estado e acaba sendo responsabilizada individualmente por falhas coletivas.
A responsabilização penal plena a partir dos 16 anos ignora a própria noção de desenvolvimento biopsicossocial, amplamente respaldada por estudos da psicologia, da neurociência e do direito internacional. Além disso, contraria tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, que estabelece os 18 anos como limite mínimo para a responsabilização penal plena.
Prisão como solução? O fracasso do sistema carcerário
O sistema prisional brasileiro é um dos mais superlotados e violentos do mundo. Segundo o CNJ (2023), o país já ultrapassa 800 mil pessoas presas, muitas delas em condições degradantes, sem acesso à educação, trabalho ou políticas de ressocialização. Inserir adolescentes nesse sistema não representa uma solução, mas sim uma condenação antecipada à exclusão permanente.
Como aponta Foucault (1987), a prisão não corrige, mas produz sujeitos adaptados à lógica disciplinar. No caso dos jovens, a entrada precoce no sistema penal aumenta a reincidência, fortalece vínculos com facções e agrava o processo de marginalização. A redução da maioridade penal, nesse sentido, contribui para um ciclo vicioso de violência e exclusão.
Em vez de reduzir a idade penal, seria mais eficaz investir em políticas de prevenção à violência, fortalecimento do sistema socioeducativo e ampliação do acesso à educação, cultura e saúde. Como já foi demonstrado por experiências internacionais, a repressão sem inclusão apenas desloca o problema, sem enfrentá-lo em sua raiz.
Temas polêmicos – Tema 10: Descriminalização da eutanásia
Outro grande representante de temas polêmicos é a eutanásia. A descriminalização da eutanásia representa um dos temas mais controversos da contemporaneidade, envolvendo questões jurídicas, éticas, religiosas e sociais. Em uma sociedade que valoriza a vida, mas também enfrenta os desafios do sofrimento prolongado, das doenças incuráveis e do envelhecimento populacional, a possibilidade de escolher o próprio fim de forma consciente e assistida divide opiniões e levanta debates intensos.
No Brasil, a prática da eutanásia ainda é proibida, sendo enquadrada como homicídio mesmo em situações de consentimento do paciente. Em contrapartida, países como Bélgica, Holanda, Canadá e alguns estados dos EUA já regulamentaram a prática em contextos específicos, reconhecendo o direito à morte digna como uma extensão do direito à vida.
Sob a ótica das ciências sociais, a eutanásia não é apenas uma questão de saúde ou de bioética, mas está ligada a concepções de autonomia, dignidade, cidadania e poder sobre o próprio corpo. Este texto se propõe a analisar a descriminalização da eutanásia sob uma abordagem sociológica, discutindo os significados sociais da morte, o papel do Estado, as tensões culturais envolvidas e os impactos nas políticas públicas.
A morte como construção social
A forma como as sociedades compreendem e enfrentam a morte varia ao longo da história. Para Norbert Elias (2001), a morte, que outrora era um acontecimento público, passou a ser progressivamente medicalizada e escondida do convívio social nas sociedades ocidentais modernas. O morrer tornou-se um processo institucionalizado, gerido pelo sistema de saúde, com pouca participação ativa do sujeito no momento final da vida.
A eutanásia rompe com essa lógica ao devolver ao indivíduo o protagonismo sobre seu fim. Trata-se de um gesto radical de autonomia, que questiona não apenas as normas jurídicas, mas também os valores culturais que sacralizam a vida a qualquer custo. Como destaca Giddens (2002), a modernidade reflexiva intensifica a preocupação com a autodeterminação e com o controle sobre os riscos e os rumos da existência.
Sob essa perspectiva, a morte não deve ser entendida apenas como um evento biológico, mas como um fenômeno carregado de significados culturais e simbólicos. A recusa à eutanásia, muitas vezes, expressa o desejo de manter o controle social sobre o corpo, mesmo nos seus limites mais extremos.
Autonomia, bioética e cidadania
A eutanásia envolve o exercício da autonomia sobre o próprio corpo, o que, nas sociedades democráticas, é considerado um direito fundamental. A possibilidade de decidir sobre a própria morte em situações extremas de sofrimento é vista, por muitos teóricos, como extensão da cidadania e da dignidade humana. Para Habermas (2007), os direitos humanos devem incluir a capacidade de autodeterminação racional dos sujeitos em todas as esferas da vida, inclusive em sua conclusão.
A bioética contemporânea, por sua vez, se estrutura sobre quatro princípios fundamentais: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. A eutanásia, sob critérios rigorosos, pode ser compatível com todos esses princípios. Respeitar o desejo de uma pessoa em situação terminal que não deseja mais viver sob sofrimento intenso é um ato de reconhecimento de sua humanidade.
A negação da eutanásia, em contrapartida, pode ser interpretada como imposição de sofrimento em nome de valores abstratos ou religiosos. Tal postura contradiz o princípio de que a dignidade da vida está ligada à sua qualidade e ao respeito pela vontade do sujeito.
Moral religiosa e os limites da laicidade
Grande parte da oposição à eutanásia tem origem em argumentos religiosos. Nas tradições cristãs, por exemplo, a vida é considerada um dom divino, e apenas Deus teria o poder de tirá-la. Essa concepção moral, no entanto, não pode se sobrepor às decisões políticas em sociedades laicas.
Como ressalta Pierucci (2004), o Brasil, embora constitucionalmente laico, experimenta uma crescente interferência religiosa na esfera pública. A eutanásia, nesse contexto, é tratada como uma heresia moral, não como um direito. Essa sacralização da vida — descolada da experiência concreta do sofrimento — impede a formulação de políticas públicas baseadas na razão, na ciência e na pluralidade de valores.
A laicidade do Estado não exige a negação da religião, mas sim a garantia de que nenhuma fé será imposta como norma geral. A política de saúde, nesse sentido, deve respeitar a diversidade ética dos cidadãos e garantir que o sofrimento não seja prolongado por imposição de crenças que não pertencem à pessoa em sofrimento.
Considerações Finais
Trabalhar temas polêmicos em sala de aula é uma estratégia didática que vai além do ensino tradicional. Ao explorar temas polêmicos, o educador cria oportunidades de formação crítica, sensibilização social e desenvolvimento argumentativo. Esses temas polêmicos são, por essência, motores de reflexão e confronto de ideias, exigindo dos estudantes não apenas opinião, mas fundamentação, escuta e respeito.
Ao longo deste material, apresentamos dez temas polêmicos cuidadosamente selecionados e vinculados aos eixos das Ciências Sociais. Cada um desses temas polêmicos foi estruturado para fomentar debates profundos, despertar questionamentos e permitir que os alunos compreendam as múltiplas dimensões dos dilemas contemporâneos. Quando bem conduzidos, os temas polêmicos promovem o exercício da cidadania e a aprendizagem significativa.
Não há educação crítica sem o enfrentamento dos temas polêmicos. Eles revelam as tensões de nossa sociedade, expõem contradições e obrigam o estudante a sair do lugar-comum, confrontando-se com argumentos distintos dos seus. Ao incorporar temas polêmicos no currículo, o professor também assume seu papel político-pedagógico, favorecendo o desenvolvimento de sujeitos autônomos, conscientes e participativos.
Entretanto, lidar com temas polêmicos exige preparação, equilíbrio e empatia. O educador deve atuar como mediador atento, garantindo que os temas polêmicos sejam abordados com responsabilidade e respeito à diversidade de pensamentos. O cuidado ao tratar temas polêmicos envolve conhecer o contexto da turma, utilizar fontes confiáveis e promover a escuta ativa entre os estudantes.
Os temas polêmicos aqui sugeridos estão entre os mais debatidos na esfera pública e nos meios de comunicação. São temas polêmicos que tocam diretamente em direitos, identidades, valores e escolhas coletivas. São também temas polêmicos que frequentemente aparecem em avaliações externas, como o Enem, e em vestibulares, o que reforça a importância de sua abordagem no ensino médio.
A pluralidade de visões que os temas polêmicos exigem proporciona aos alunos experiências formativas únicas. Quando os estudantes se veem desafiados a defender ou questionar posicionamentos sobre temas polêmicos, passam a desenvolver competências fundamentais, como a argumentação lógica, a análise crítica e a tolerância com o contraditório.
É importante lembrar que os temas polêmicos não devem ser impostos, mas sim apresentados como oportunidades de aprendizagem. A escolha dos temas polêmicos deve considerar o momento social, os interesses da turma e os objetivos pedagógicos. Ao planejar com intencionalidade, o professor transforma os temas polêmicos em instrumentos de construção coletiva do conhecimento.
Concluímos este material reafirmando a relevância dos temas polêmicos como aliados da educação transformadora. Que cada professor possa adaptar, expandir e aprofundar estes temas polêmicos, respeitando a realidade de sua escola e comunidade. Ao assumir os temas polêmicos como parte do cotidiano pedagógico, reafirmamos nosso compromisso com uma educação democrática, reflexiva e socialmente engajada.
Referências
BAUMAN, Zygmunt. Medo líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011.
BECKER, Howard. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 2004.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 1992.
BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
BOITEUX, Luciana. Política de drogas e direitos humanos: a reforma necessária. São Paulo: IBCCrim, 2013.
BOURDIEU, Pierre. A miséria do mundo. Petrópolis: Vozes, 1998.
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.
DREYER, Letícia. Aborto e saúde pública no Brasil: desafios para os direitos reprodutivos. Revista Brasileira de Bioética, Brasília, v. 12, n. 3, p. 433-445, 2016.
DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
ELIAS, Norbert. A solidão dos moribundos. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1987.
FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 35. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós. Rio de Janeiro: Record, 2002.
GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e educação. São Paulo: Cortez, 2019.
GREENPEACE. Energia nuclear no Brasil: riscos e retrocessos. São Paulo: Greenpeace Brasil, 2014.
HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007.
HARVEY, David. O neoliberalismo: história e implicações. São Paulo: Loyola, 2008.
HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções: 1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
KEYNES, John Maynard. Teoria geral do emprego, do juro e da moeda. São Paulo: Nova Cultural, 1985.
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O manifesto comunista. São Paulo: Boitempo, 2007.
MISKOLCI, Richard. O desejo da nação: masculinidade e branquitude no Brasil de FHC. São Paulo: Editora Annablume, 2009.
PERROW, Charles. Normal accidents: living with high-risk technologies. Princeton: Princeton University Press, 1999.
PIERUCCI, Antônio Flávio. Religião e espaço público. São Paulo: Editora da USP, 2004.
POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens da nossa época. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
RAMOS, Silvia. Na opinião pública, o negro é o culpado: mídia e racismo institucional. In: BRANCO, Pedro et al. (Orgs.). Violência, criminalidade e segurança pública no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2015.
SANTOS, Juarez Cirino dos. Criminologia radical. Rio de Janeiro: Revan, 2012.
SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1983.
WAQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema penal. Rio de Janeiro: Revan, 2001.




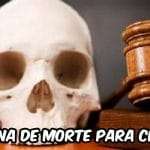



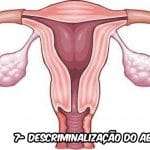

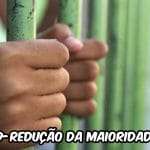

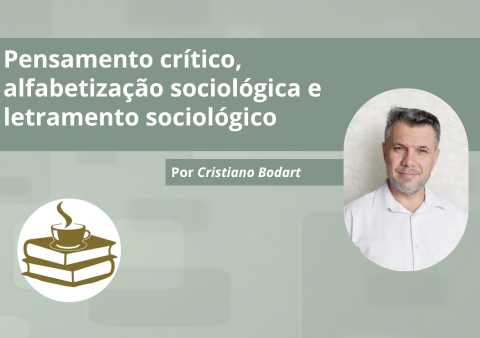
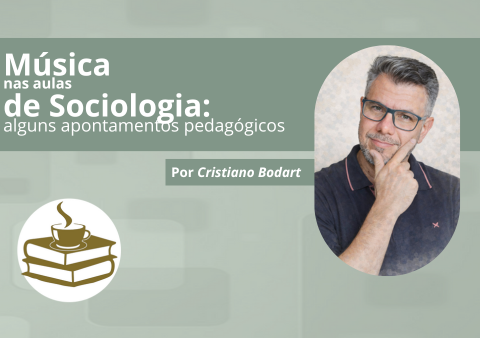
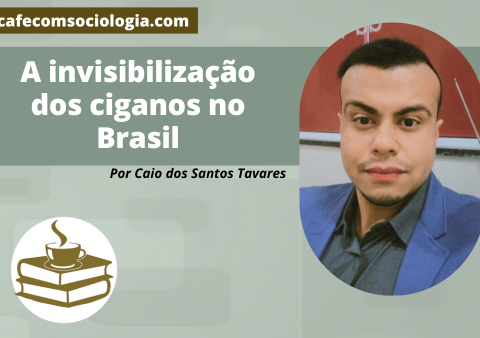
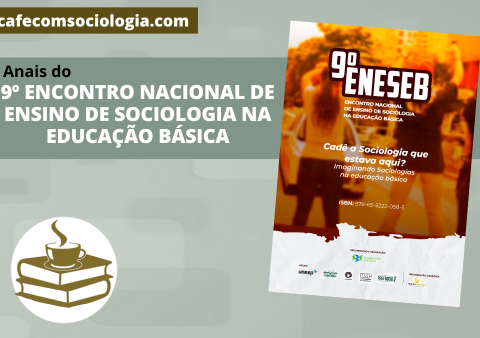
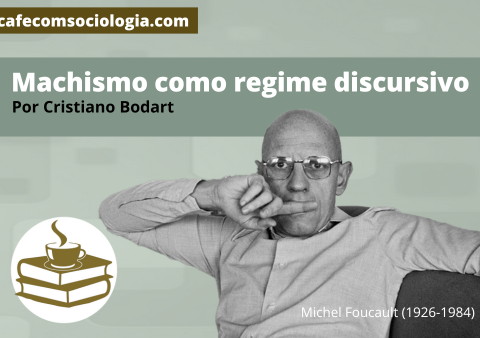
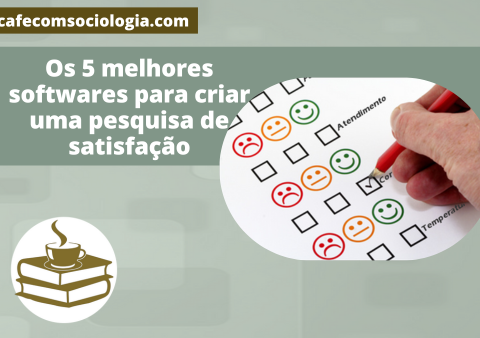




MUDANÇAS CLIMÁTICAS – ORIGENS E EFEITOS
O QUE A SOCIEDADE CAPIXABA PENSA SOBRE O ASSUNTO
Em pesquisa realizada – única até hoje no Estado – pelo Núcleo de Estudos em Percepção Ambiental e Social / NEPAS, grupo sem fins lucrativos, que poderá ser acessada na íntegra via http://www.nepas.com.br , foi avaliado o perfil da percepção ambiental da sociedade na Região da Grande Vitória (Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha), tendo como base 960 entrevistas, com um erro associado de mais ou menos 3%.
Apesar da temática “Mudanças Climáticas” ser do pleno interesse da sociedade, com requerimentos protocolizados junto aos Conselhos Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) e Estadual de Recursos Hídricos (CERH), por entidades da sociedade civil com assento nestes Conselhos (Junho de 2018 e Abril de 2019), até hoje, de forma inexplicável, nada foi feito por parte dos gestores ambientais no que se refere a convocação de reunião conjunta dos Conselhos para analisar e propor ações (corretivas e preventivas) que possam balizar a ação do Poder Público.
Merece destaque o fato de que o Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas, criado pelo próprio Poder Público, foi desativado, também por razões desconhecidas, há alguns anos.
Quanto a pesquisa, entre outros questionamentos, foi perguntado aos entrevistados se conheciam o termo “Mudanças Climáticas”, obtendo-se respostas afirmativas em percentual que oscilou entre 18 e 23%. Para “Efeito Estufa” oscilou entre 1 e 2%, “Aquecimento Global” 17 e 22% e para “Desenvolvimento Sustentável” entre 11 e 20%, o que evidência a distância entre a sociedade e os conceitos básicos do conteúdo da pesquisa, ou seja, a necessidade de estruturar e implantar ações / programas de Educação Ambiental que cubram tais objetivos.
Foi pesquisada a causa das Mudanças Climáticas, observando-se a seguinte resposta: “devido a atividade humana” (entre 15 e 19%), questionando-se também se o Aquecimento Global (causa das Mudanças Climática seria, na visão da sociedade, um problema sério , sendo que apenas 3 a 8% dos entrevistados confirmaram o fato, o que é um fato realmente preocupante.
A ação do Poder Público foi avaliada em termos de assegurar condições para a minimização do processo de Mudanças Climáticas, sendo, por 10 a 13% dos entrevistados, consideraram como uma ação fraca e, 7 e 8%, como muito fraca.
Questionados se as instituições de ensino superior (públicas e privadas) estão preparando adequadamente os profissionais que deixam as faculdades de modo a poder enfrentar o tema Mudanças Climáticas, apenas 4 a 8% indicaram que sim.
Consultados se conheciam alguma organização não governamental (ONG) que atuasse na região onde mora, 21 a 23% disseram que não, além de acusar um reduzido acesso a sites ligados à temática ambiental (0,5 e 2% disseram que sim).
Perguntados se teriam interesse em ter maiores informações sobre o tema Mudanças Climáticas, foi observado respostas entre 5 e 8%. Quanto a Aquecimento Global as respostas oscilaram entre 9 e 11% e em relação a Efeito Estufa, 4 a 5%.
Questionados se a sociedade teria poder para exigir ações do Poder Público em relação as Mudanças Climáticas, 9 a 14% indicaram que a sociedade tem pouco poder, mas que deveria lutar para reverter esta situação, o que enfatiza ainda mais a importância da discussão do assunto no âmbito dos Conselhos.
Visando entender como a sociedade percebe os efeitos decorrentes das Mudanças Climáticas, foram observadas as seguintes respostas: “aparecimento de efeitos climáticos extremos” (8 a 15%), “elevação do nível dos mares” (11 a 17%), “derretimento das geleiras” (12 a 19%), “redução na disponibilidade de água” (4 a 12%), “desertificação” (7 a 14%), “efeitos na agricultura” (2 a 11%) e “efeitos sobre a saúde da população” (4 a 12%), contexto que caracteriza uma visão muito limitada da problemática das Mudanças Climáticas.
Consultados se participaram de alguma palestra / evento sobre o assunto, apenas 17 a 21% indicaram que sim.
Concluindo, a nosso ver, fica evidente que a inserção do tema na pauta dos Conselhos, com a urgência que se faz necessário, é uma ação inadiável.
Roosevelt Fernandes
Membro do CONSEMA e do CERH
[email protected]